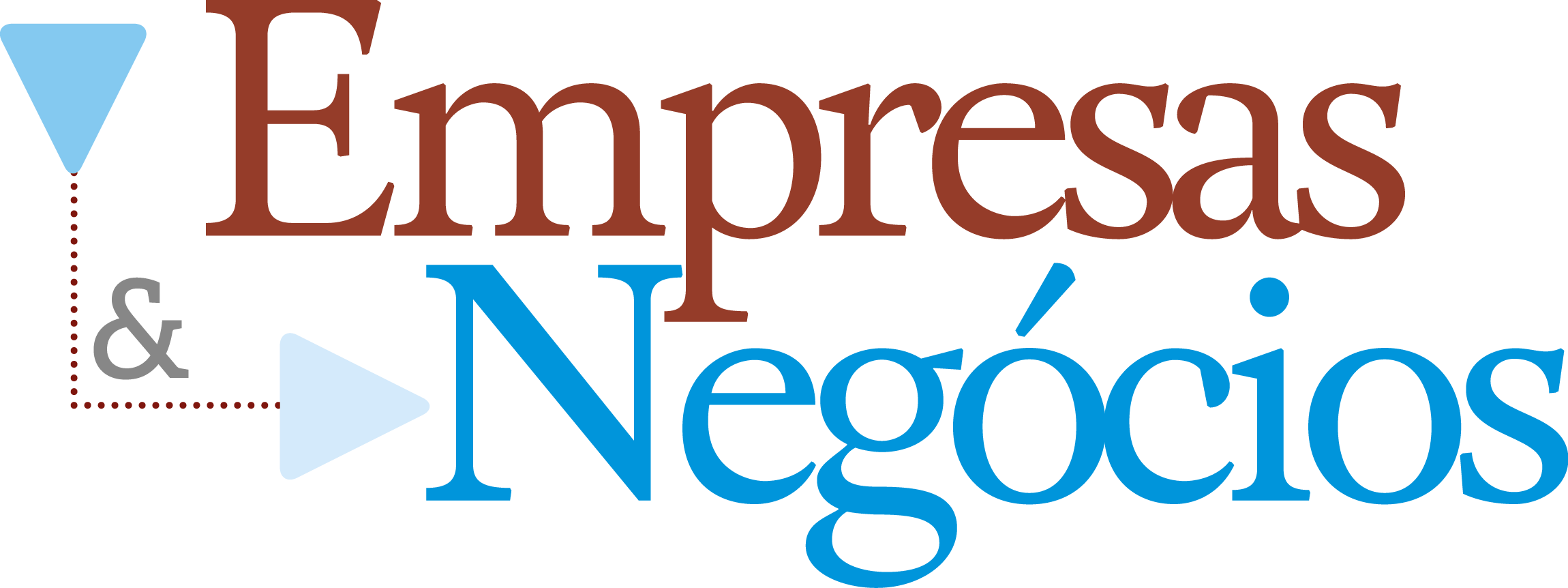Telmo Schoeler (*)
É notório que nos tempos mais recentes a governança corporativa vem avançando no Brasil.
Isto decorre de diversos fatores que vão desde a natural evolução pela formação profissional de novas gerações, até a osmose e inspiração tanto em casos bem-sucedidos quanto em tragédias de gestão, a imposição por crises que desestruturam o passado e, indubitavelmente, também o trabalho de formação, pregação, conscientização e regulação sendo feito nos últimos 20 anos pelo IBGC.
Entretanto, quando se compara nosso estágio com a boa prática dos países escandinavos e, especialmente, das empresas alemãs – públicas e privadas – nota-se que o país ainda está muito distante do que necessário para assegurar verdadeiramente a sustentabilidade econômica das suas organizações. Alguns aspectos ratificam isso.
Ainda se encontra inúmeros casos de acúmulo de posições executivas com as de Conselho, além de muita resistência ao abandono dessa prática que é um erro conceitual, pois é insano alguém dar ordens, supervisionar e cobrar a si mesmo.
Há um largo uso de GC como uma mera questão de marketing, quase como se fosse um jogo para cumprir tabela. Nesses casos, de fato, o Conselho não atua como deve, a Diretoria não tem a qualificação e não responde ao que deveria, a contabilidade e a auditoria não têm a precisão e importância cabível e a transparência é um discurso de ficção. Mais ou menos como a certificação de “Qualidade” que nos seus primórdios foi um processo irreal implantado “para ISO” e não “para uso”, ou seja, com a forma sendo mais importante do que o conteúdo, a estrutura e formalidade mais relevante do que a realidade.
A preocupação com a forma também transparece no assunto “compliance”, onde a lógica local prega, olha e exige regras e detalhes definidos para o que significa “conformidade”, quando na verdade, como na Alemanha, nada precisaria estar escrito, mas apenas cumprido. Acordos de acionistas, estatutos, regulamento do condomínio, leis, a Constituição etc, são regras vigentes e simplesmente devem ser cumpridas, sem adjetivos, condicionantes ou relatividade.
Aqui, assim como no mercado anglo americano onde nossa gestão financeira se inspira, é usual a míope visão de performance e resultados de curto prazo, com comparações mensais e trimestrais, havendo pouco ou mesmo nenhum olhar estratégico de longo prazo, dimensão que, nas empresas familiares bem sucedidas e longevas, não deve ser medida em semestres, nem em anos, mas sim em gerações e, nas não familiares, em décadas.
Este errôneo foco imediatista decorre, entre outros fatores, da própria e normal ausência de concretas definições de objetivos de longo prazo, que impedem a adequada visão estratégica e, por consequência, condizente ação tática. Falta alinhamento societário – estratégico – operacional. Aqui, ainda não é clara a percepção de que ser “Conselheiro” é uma profissão, com exigências de capacidade, qualificação e perfil. Por essa lacuna, a indicação é muito baseada em amizade, parentesco, afinidade, conveniência ou ligações políticas, daí decorrendo um razoável despreparo analítico-decisório.
Ainda prevalece no Brasil a lógica empresarial de gestão e cobrança focada no interesse do acionista, que objetiva maximização de resultados, dividendos e valor patrimonial. A do moderno capitalismo inclusivo requer uma visão holística, onde o sucesso e perenidade da empresa decorrem do atendimento e satisfação integrado e equilibrado de todas as partes relacionadas – stakeholders – ou seja, fornecedores, funcionários, clientes e acionistas. Se a empresa for boa, desejada e valorizada pelos três primeiros, será um sucesso para seus sócios.
(*) – É sócio diretor da Strategos Consultoria Empresarial e da Orchestra – Soluções Empresariais. Atua há 50 anos em funções executivas de diretoria e presidência de empresas nacionais e estrangeiras na indústria, comércio e serviços.