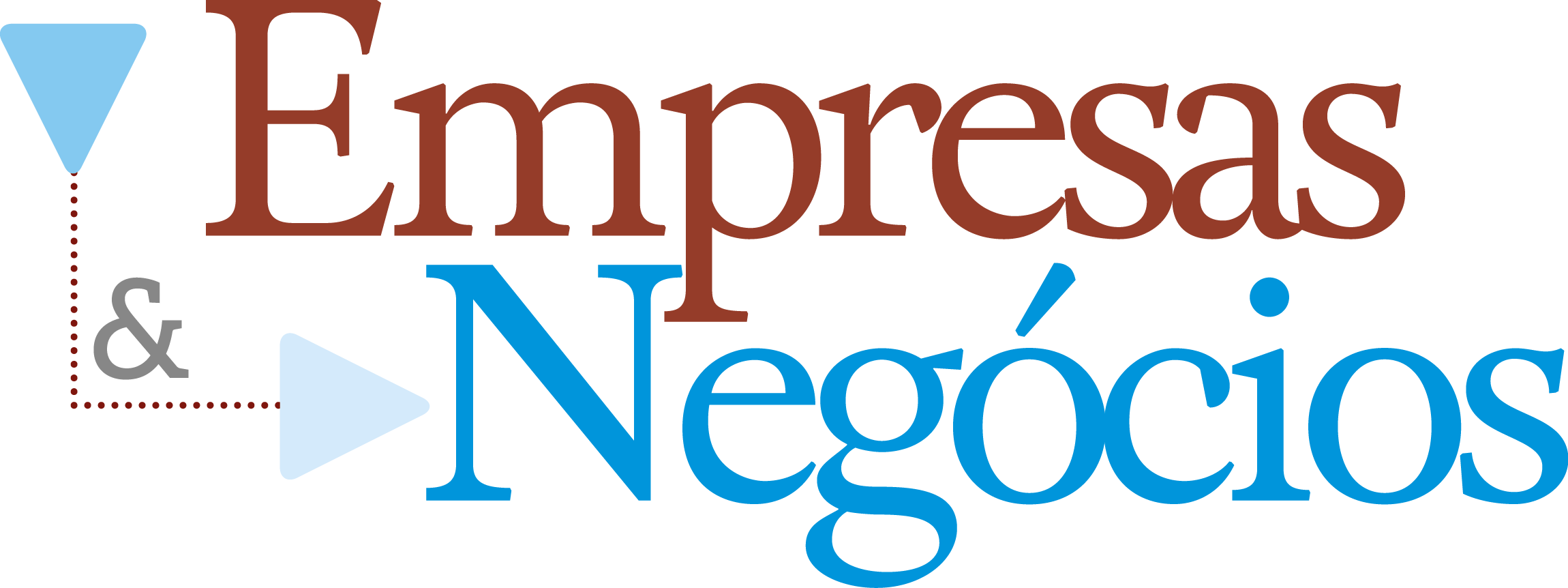Há 50 anos, ditadura derrubava governador de São Paulo
A insolência era escancarada. Ao longo dos primeiros meses de 1966, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, peitou sistematicamente o marechal Humberto Castello Branco, o primeiro presidente da ditadura
militar. O líder paulista exigia o fim do regime iniciado em 1964, a renúncia do mandatário
e a convocação de eleição direta para a Presidência da República.
Adhemar de Barros (sentado) e o presidente Castello Branco. |
Ricardo Westin/Agência Câmara
A ditadura deu o troco há exatos 50 anos. Em 6 de junho de 1966, com uma canetada, Castello Branco despejou o governador do Palácio dos Bandeirantes e pôs um ponto final na carreira de um dos nomes mais controversos da política brasileira. Faltavam só oito meses para a conclusão do mandato. Documentos guardados no Arquivo do Senado mostram como os senadores da época reagiram. A opinião deles refletiu a cisão entre a Arena (governo) e o MDB (oposição), únicos partidos autorizados pela ditadura.
O senador Gay da Fonseca (Arena-RS) disse que Castello Branco fora até mesmo benevolente: “O senhor presidente não quis usar do recurso da Constituição para intervir em São Paulo. Resguardou a autonomia do estado, como homenagem ao seu povo. Optou por outro recurso, que o ato institucional lhe conferia. Atingiu apenas o homem que não estava sintonizado com o povo do grande estado. Foi uma demonstração inequívoca do apreço do presidente às instituições e à ordem constitucional”. Ele se referia ao Ato Institucional 2, baixado em 1965 com o objetivo de blindar o regime. O AI-2 estabeleceu eleições indiretas para a Presidência, impôs o bipartidarismo e deu carta branca para que o presidente cassasse os direitos políticos de qualquer cidadão. Foi este último dispositivo do AI-2 que derrubou Adhemar em 1966.
O senador Josaphat Marinho (MDB-BA) fez um discurso tímido, quase resignado, contra Castello Branco: “Tenho o dever de homem público, de senador da República, de manifestar a repulsa de uma consciência democrática ao ato de violência praticado contra a autonomia de São Paulo. Falo com a isenção de quem nunca nem cumprimentou o ex-governador”.
 Em 1966, não houve dia em que os jornais não publicassem declarações de Adhemar contra o regime. Em janeiro, o governador pediu eleições diretas para presidente e governador e defendeu o fim do bipartidarismo: “Vejam os próprios nomes dos atuais partidos, bastante infelizes. Na Arena, os leões são todos de chácara”. O tom era cada vez mais provocador. Em março, pediu que Castello Branco fizesse um “gesto de grandeza e patriotismo” e renunciasse, transmitindo o cargo ao marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido presidente entre 1946 e 1951, eleito democraticamente. “No marechal Dutra, todos confiam”, argumentou Adhemar, acrescendo que o novo presidente permitiria a volta à democracia.
Em 1966, não houve dia em que os jornais não publicassem declarações de Adhemar contra o regime. Em janeiro, o governador pediu eleições diretas para presidente e governador e defendeu o fim do bipartidarismo: “Vejam os próprios nomes dos atuais partidos, bastante infelizes. Na Arena, os leões são todos de chácara”. O tom era cada vez mais provocador. Em março, pediu que Castello Branco fizesse um “gesto de grandeza e patriotismo” e renunciasse, transmitindo o cargo ao marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido presidente entre 1946 e 1951, eleito democraticamente. “No marechal Dutra, todos confiam”, argumentou Adhemar, acrescendo que o novo presidente permitiria a volta à democracia.
À primeira vista, os esperneios levam a crer que Adhemar era adversário dos abusos dos militares e defensor das liberdades democráticas. Não era bem assim. O governador estava mais comprometido com seu ambicioso projeto de tornar-se presidente da República. É por isso que batia tanto na tecla das eleições diretas.
Adhemar havia disputado as eleições presidenciais de 1955 e 1960, terminando sempre em terceiro lugar. Em 1955, o vencedor foi Juscelino Kubitschek. Em 1960, Jânio Quadros.
O irônico é que, antes de tornar-se adversário dos militares, Adhemar foi um dos conspiradores mais decisivos no golpe de 1964. Ele ajudou a organizar em 19 de março a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma megamanifestação de 300 mil pessoas no centro de São Paulo que pediu a destituição do presidente João Goulart para afastar do país o “perigo comunista”. Na noite do golpe, em 31 de março, o governador fez um pronunciamento em cadeia estadual de rádio e TV anunciando que a ação que encurralava Jango era apoiada por São Paulo.
 “Adhemar se sentiu traído”, explica Amilton Lovato, autor da biografia ‘Adhemar – fé em Deus e pé na tábua’ (Geração Editorial). “Ele retirou o apoio quando se deu conta de que os militares não cumpririam a promessa de realizar eleições presidenciais diretas em 1965. O sucessor de Castello Branco seria eleito pelo Congresso, não pelo povo, e apenas em 1966”. Aos jornais, Adhemar soltava desabafos como “não vou mais fazer revolução nenhuma” e “os traidores só são usados quando interessam, depois são jogados de lado”.
“Adhemar se sentiu traído”, explica Amilton Lovato, autor da biografia ‘Adhemar – fé em Deus e pé na tábua’ (Geração Editorial). “Ele retirou o apoio quando se deu conta de que os militares não cumpririam a promessa de realizar eleições presidenciais diretas em 1965. O sucessor de Castello Branco seria eleito pelo Congresso, não pelo povo, e apenas em 1966”. Aos jornais, Adhemar soltava desabafos como “não vou mais fazer revolução nenhuma” e “os traidores só são usados quando interessam, depois são jogados de lado”.
Ele não foi o único “golpista arrependido”. No grupo, também figuravam o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e até mesmo JK. O primeiro fora um dos mais virulentos críticos de Jango. O segundo, como senador, protagonizara as negociações que levaram o Congresso a eleger Castello Branco. Adhemar, Lacerda e JK ambicionavam a Presidência e, por isso, foram sumariamente cassados.
Adhemar não dizia explicitamente que debaixo das críticas se escondiam motivações pessoais. Em abril de 1966, deu uma justificativa pouco crível para seus ataques aos ex-aliados: “O povo esperava que os líderes da revolução tirassem o Brasil da esquerda para o centro, mas fizeram tanta força que o país foi parar na direita”.
Castello Branco fazia vista grossa. A paciência se esgotou quando Adhemar começou a sabotar o candidato dos militares na eleição para sucedê-lo no Palácio dos Bandeirantes, que estava marcada para setembro de 1966 e, por ordem da ditadura, seria indireta. O governador foi acusado de criar uma “caixinha” com propina e dinheiro público para recompensar os deputados estaduais que não votassem no candidato de Castello Branco.
 A cassação foi baixada na cabalística data de 6/6/66, uma segunda-feira chuvosa em São Paulo. Não houve processo nem direito de defesa. Adhemar saiu de cena sem esboçar reação. Acabava assim a carreira de um dos políticos mais influentes e polêmicos de São Paulo.
A cassação foi baixada na cabalística data de 6/6/66, uma segunda-feira chuvosa em São Paulo. Não houve processo nem direito de defesa. Adhemar saiu de cena sem esboçar reação. Acabava assim a carreira de um dos políticos mais influentes e polêmicos de São Paulo.
Adhemar ganhou notoriedade em 1938, ao ser alçado ao posto de interventor do estado pelo ditador Getúlio Vargas. Depois, pelo voto popular, ele voltaria ao governo paulista duas vezes e ocuparia a prefeitura da capital uma vez. Sua principal política era inaugurar obras públicas monumentais. São Paulo deve a Adhemar, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Autódromo de Interlagos, o Aeroporto de Viracopos e as Rodovias Anhanguera e Anchieta.
Adhemar se viu envolvido em inúmeras acusações de corrupção. Por essa razão, os adversários lhe atribuíram o slogan “rouba, mas faz”, do qual jamais se desvencilhou. Nunca, porém, se comprovaram as suspeitas. No mesmo dia da cassação, o vice-governador Laudo Natel, que era presidente do São Paulo Futebol Clube, tomou posse para cumprir o restante do mandato de Adhemar.
No Senado, o vice-líder da Arena, Eurico Rezende (ES), argumentou que a cassação foi necessária porque a sucessão em São Paulo era “de interesse fundamental para a segurança da revolução” e porque não haveria eleição limpa com Adhemar no governo. O líder do MDB, senador Aurélio Viana (GB), discordou. Para ele, a “revolução” havia extrapolado os limites: “A questão não é se o senhor Adhemar de Barros estava praticando a corrupção e deveria ter sido afastado do poder pela força. A questão é se numa democracia esse processo é válido. Enquanto outros defendem o direito da força, nós defendemos a força do direito. O que acontece é que alguns de nós ainda estamos na ilusão de que vivemos num país em que a força do direito é que é válida”.
Após a cassação, Adhemar deixou o Brasil. Um ataque cardíaco o mataria pouco depois, em 1969, na França, aos 67 anos.