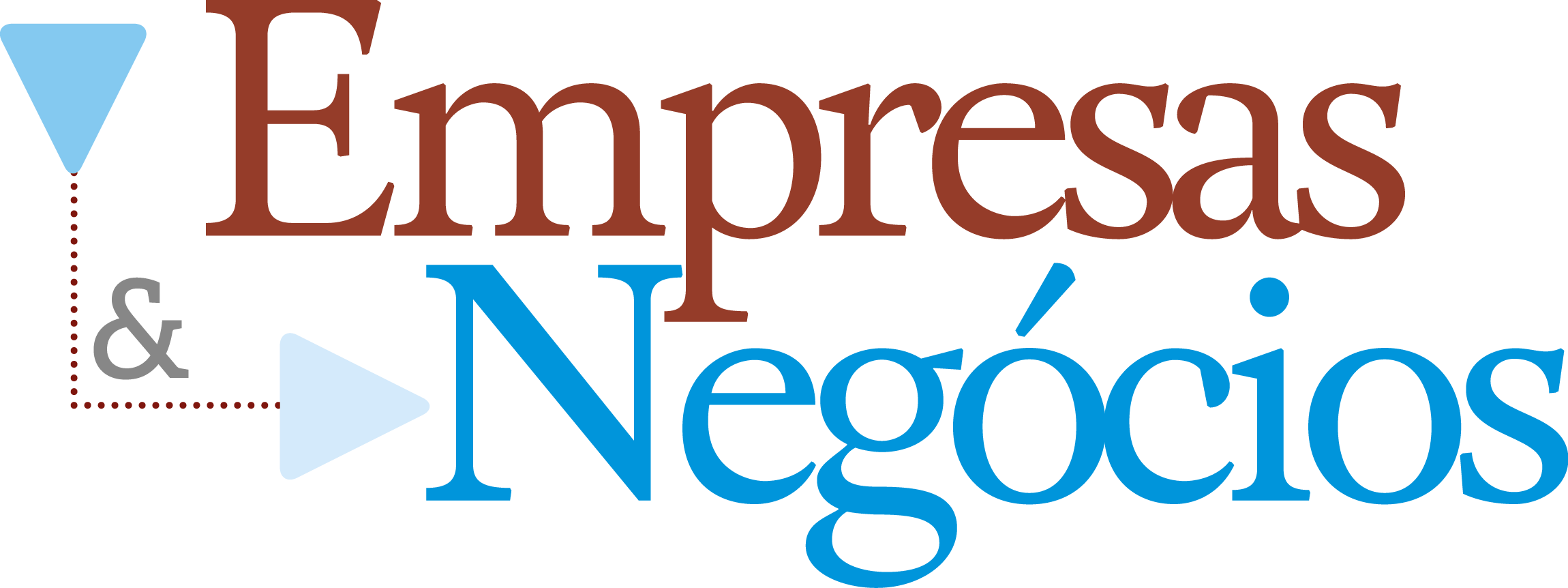Improviso e falta de reconhecimento marcaram início do esporte paralímpico
Em 1984, a delegação de atletas convocados para representar o Brasil na Paralimpíada de Nova York estava com tudo pronto para embarcar, só faltava um detalhe: uma das passagens de avião. A dois dias da viagem, o grupo de sete atletas cegos que ia para a competição só tinha conseguido seis passagens e teria que cortar um integrante da delegação.
Atletas com deficiência visual que participaram da Paralimpíada de Nova York, em 1984. Ao centro, Mário Sérgio Fontes (de óculos) e Anelise Hermany. |
“Definimos que se essa última passagem não fosse adquirida, deveríamos cortar uma pessoa, que seria a única menina da equipe. Em princípio, se achava que essa garota teria menos condições de alcançar resultados. Porém, essa última passagem foi conseguida em cima da hora, e a equipe foi completa”, conta o ex-atleta Mário Sérgio Fontes.
Por ironia, a menina que seria cortada era Anelise Hermany, que foi a única do grupo de deficientes visuais que voltou para o Brasil com medalhas: duas de prata e uma de bronze. Naquele ano, Márcia Malsar, também do atletismo, que tem paralisia cerebral, ganhou três medalhas – uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.
A história contada por Fontes, um dos pioneiros do esporte para cegos no Brasil, reflete bem como era o esporte para deficientes no país há algumas décadas. A falta de financiamentos e de patrocínios dificultava o treinamento e a participação em torneios e disputas internacionais. Os atletas mais antigos contam que não havia exatamente um patrocínio para suas atividades, mas ajudas esporádicas, conquistadas de forma individual.
“Não tínhamos nenhuma condição financeira de ficar em hotéis para treinamento, nossa estrutura era totalmente empírica porém, com absoluta certeza, era feita com amor, com vontade, com dedicação de todos aqueles que militavam, porque ninguém fazia sequer pensando em ganhar dinheiro”, diz Fontes, que é deficiente visual e também participou da Paralimpíada de Seul (1988).
 A atleta Ádria Santos, que participou de seis paralimpíadas entre 1988 e 2008, conta que só começou a receber apoio financeiro para a prática do esporte depois de ter participado de três competições. A ganhadora de 13 medalhas paralímpicas no atletismo (4 ouros, 8 pratas e 1 bronze) diz que, no início, treinava com tênis de futebol de salão e em pistas de carvão. Mesmo quando conseguiam ir à Paralimpíada, as condições enfrentadas não eram as ideais. “Em Seul, a gente teve uniforme, mas não era como hoje, com o tamanho certo e de marcas conhecidas. Naquela época, os uniformes eram feitos e muitos ficavam pequenos, curtos, e tinha que usar, porque era só aquilo que tinha”, conta Ádria.
A atleta Ádria Santos, que participou de seis paralimpíadas entre 1988 e 2008, conta que só começou a receber apoio financeiro para a prática do esporte depois de ter participado de três competições. A ganhadora de 13 medalhas paralímpicas no atletismo (4 ouros, 8 pratas e 1 bronze) diz que, no início, treinava com tênis de futebol de salão e em pistas de carvão. Mesmo quando conseguiam ir à Paralimpíada, as condições enfrentadas não eram as ideais. “Em Seul, a gente teve uniforme, mas não era como hoje, com o tamanho certo e de marcas conhecidas. Naquela época, os uniformes eram feitos e muitos ficavam pequenos, curtos, e tinha que usar, porque era só aquilo que tinha”, conta Ádria.
Em 1982, a delegação brasileira que foi participar dos jogos Parapan-Americanos em Halifax, no Canadá, teve que contar com a boa vontade dos moradores locais para conseguir agasalhos. “Nós chegamos para disputar o campeonato em um frio abaixo de zero, e todo mundo estava de camiseta. Mas, como era uma colônia de portugueses, tivemos facilidade com a língua, e eles que compraram os primeiros casacos para vestirmos”, conta o ex-atleta Luiz Cláudio Pereira, que é cadeirante e hoje é presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas.
O atleta, que participou da Paralimpíada de Stoke Mandeville, em 1984, de Seul, em 1988, e de Barcelona, em 1992, e já conquistou nove medalhas paralímpicas diz que a principal diferença da prática do esporte naquela época é em relação aos recursos disponíveis. “Hoje, temos patrocinadores, todo mundo viaja muito bem. Isso mostra que não se faz esporte de alto rendimento só com desejo. Se faz com recursos”.
O primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, João Batista Carvalho e Silva, também considera a falta de recursos uma das maiores dificuldades para a prática do esporte por deficientes especialmente até a década de 90. Com a criação do CPB, em 1995, a captação de recursos para o esporte melhorou. Ele conta que o então ministro do Esporte, Pelé, deu muito apoio para o esporte paralímpico e até acompanhou a delegação que disputou os jogos em Atlanta, em 1996.
 “Os atletas mais antigos relatam que não conseguiam patrocínio porque as empresas não queriam associar sua marca a uma pessoa com deficiência”, diz a doutora em educação física adaptada pela Unicamp Michelle Barreto, que elaborou sua tese de doutorado sobre o esporte paralímpico brasileiro entre os anos de 1976 e 1992. “Eles nunca tiveram nenhum tipo de pagamento ou bolsa. Alguns tinham um patrocínio, que era pessoal, que é diferente da concepção de patrocínio que temos hoje. Naquele período, os amigos se reuniam ou uma empresa dava recursos para eventos específicos, como viagens. Era uma ajuda de custo para aquele momento”.
“Os atletas mais antigos relatam que não conseguiam patrocínio porque as empresas não queriam associar sua marca a uma pessoa com deficiência”, diz a doutora em educação física adaptada pela Unicamp Michelle Barreto, que elaborou sua tese de doutorado sobre o esporte paralímpico brasileiro entre os anos de 1976 e 1992. “Eles nunca tiveram nenhum tipo de pagamento ou bolsa. Alguns tinham um patrocínio, que era pessoal, que é diferente da concepção de patrocínio que temos hoje. Naquele período, os amigos se reuniam ou uma empresa dava recursos para eventos específicos, como viagens. Era uma ajuda de custo para aquele momento”.
A professora Janice Zarpellon Mazo, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS, lembra que o preconceito em relação às pessoas com deficiência era muito evidente e que vários atletas pioneiros do paradesporto no país encontraram no esporte uma alternativa de socialização. Apesar das dificuldades, os ex-atletas consideram que os primeiros momentos do esporte paralímpico no Brasil foram fundamentais para embasar o que existe hoje. Para Ádria Santos, hoje os atletas de ponta têm uma boa estrutura, mas atletas menos conhecidos ainda enfrentam as mesmas dificuldades de antigamente. Mas ela também acredita que as dificuldades ajudam a melhorar o esporte.
 A primeira participação do Brasil em Paralimpíada foi em 1972, em Heidelberg, na Alemanha, com uma equipe de dez atletas. Eles foram participar das competições de basquete em cadeiras de rodas, mas competiram também em outras modalidades, como atletismo e natação. Na Paralimpíada deste ano, no Rio de Janeiro, a delegação brasileira contará com 287 atletas, participando em 22 modalidades (ABr).
A primeira participação do Brasil em Paralimpíada foi em 1972, em Heidelberg, na Alemanha, com uma equipe de dez atletas. Eles foram participar das competições de basquete em cadeiras de rodas, mas competiram também em outras modalidades, como atletismo e natação. Na Paralimpíada deste ano, no Rio de Janeiro, a delegação brasileira contará com 287 atletas, participando em 22 modalidades (ABr).