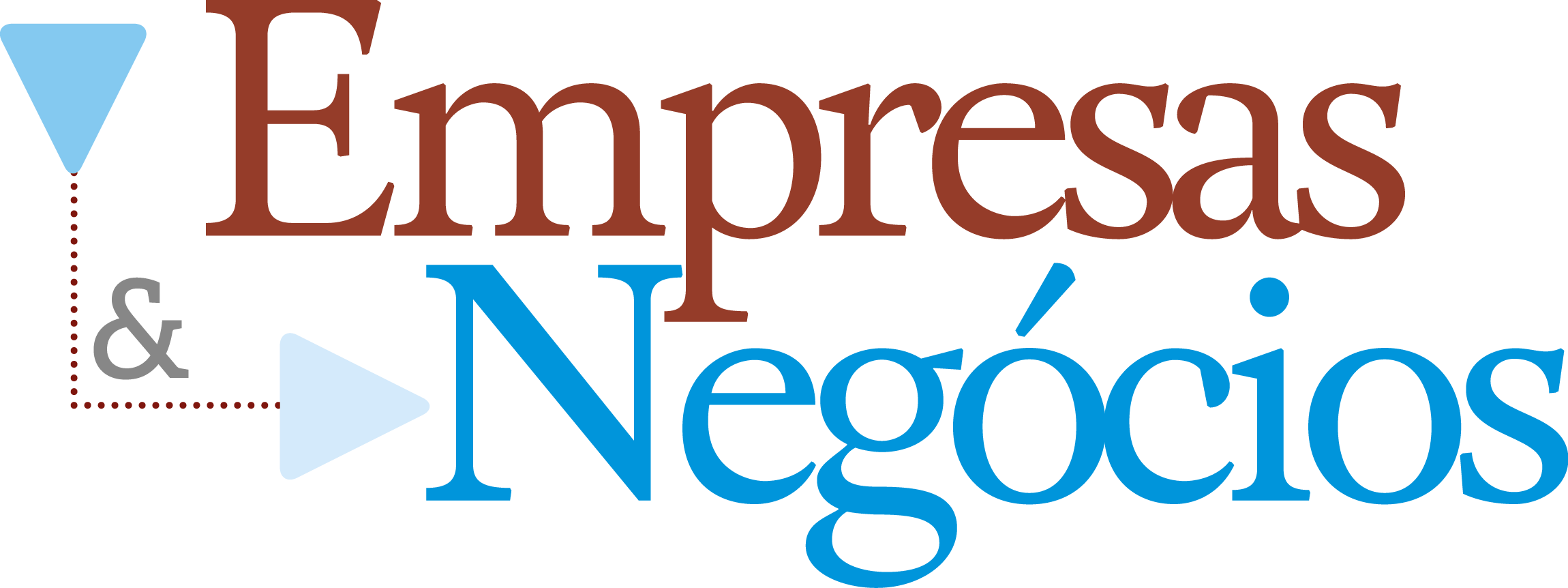Elias Feitosa (*)
Marchar no coração da cidade do Rio de Janeiro, reunindo estudantes, intelectuais, artistas, religiosos, políticos e inúmeros cidadãos comuns, tendo por objetivo manifestar sua opinião.
Poderia ter sido apenas um evento espontâneo, característico das dinâmicas sociais de um país democrático, porém o Brasil estava muito longe disso em 1968: vivíamos, desde 31 de março de 1964, um regime de exceção que depôs o presidente João Goulart e implantou através de um golpe de Estado, a ditadura militar, que contou com apoio de parte da sociedade civil. Eram os “anos de chumbo”.
Em 26 de junho de 1968, a partir das 14h, concentravam-se cerca de 50 mil pessoas na Cinelândia, atendendo uma articulação dos estudantes que, apesar da clandestinidade da UNE (fechada desde 1966), buscaram uma reação em virtude do contexto repressivo que agravara-se dia a dia: em março de 1968, a repressão militar contra um protesto pelo fechamento do restaurante universitário “Calabouço” provocou a morte do estudante Edson Luís (secundarista de 18 anos) com um tiro à queima roupa dado por um soldado da Polícia Militar.
A missa de Edson Luis, realizada na Igreja da Candelária provocou novas manifestações contra a ditadura e a repressão da polícia sobre os estudantes, religiosos e outros presentes foi violenta, inclusive, com a ação da cavalaria contra os civis. Com o avançar da tarde, no dia 26 de junho, chegavam mais e mais pessoas.Lá pelas 15h, a multidão tinha dobrado.
Os presentes vinham dos mais variados segmentos da sociedade: cerca de 150 padres encabeçados pelo cardeal D.Jaime Câmara, deputados da oposição à ditadura como Fernando Gabeira e Alfredo Sirkis, artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo, Renato Borghi; Nara Leão, Nana Caymmi, Vinicius de Morais; a escritora Clarice Lispector; do teatro e cinema Norma Bengell, Marieta Severo, Grande Otelo, Paulo Autran, José Celso Martinez Corrêa e entre tantos milhares de anônimos, de classes e profissões distintas, mas com um clamor comum: o protesto veemente contra o regime ilegítimo que controlava o país desde 1964 com a postura de terem trazido a “Salvação da Nação”.
A passeata trazia cartazes protestando contra a ditadura e seus mecanismos: prisões arbitrárias, censura, violência desmedida que ia da repressão, passando pela tortura e morte, de modo tão frívolo que poderia se tratar de um filme de horror.
Deslocaram-se por três horas e concluíram o ato em frente à Assembleia Legislativa, num ato pacífico mas sob forte vigilância policial que acompanhou todo o evento, dessa vez, sem atacar os manifestantes. Porém, muitos agentes do DOPS, responsável por parte da repressão e do SNI (Serviço Nacional de Informações) faziam o mapeamento e fichamento dos subversivos.
Como desdobramento imediato, uma comissão foi formada para conversar com o presidente da República, Gal. Arthur da Costa e Silva: Vladimir Palmeira e Luís Travassos (ambos da UNE), o padre João Batista, o professor de Filosofia da UFRJ, José Américo, o escritor Hélio Peregrino, os estudantes Marcos Medeiros e Franklin Martins e Irene Pappi, como mãe de um estudante.
Apesar da conversa não ter sido muito fecunda: as repressões não cessaram e pelo contrário, cresceram em diferentes contextos. No mesmo dia da Passeata, que fora pacífica, o grupo terrorista de esquerda VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) lançou uma caminhonete com cerca de 50 kg de dinamite contra o portão do quartel-general do II Exército em São Paulo, vitimando o soldado Mário Kozel Filho, de 18 anos que servia ali naquele contexto.
Em 2 de agosto daquele ano, Vladimir Palmeira foi preso e no dia seguinte cerca de 650 estudantes. Novas prisões no dia 4, com 300 estudantes detidos em São Paulo. Em 21 de agosto, o Congresso Nacional recusou aprovar a anistia dos estudantes presos. A UNE tentou se rearticular numa ação logisticamente complicada: um congresso sigiloso no interior de São Paulo, na pequena cidade de Ibiúna, que foi denunciado e rendeu 920 presos, inclusive, as principais lideranças em 12 de outubro de 1968.
Em 12 de outubro, um jovem militar estadunidense, suspeito de ser agente da CIA, o capitão Charles Rodney Chandler, fora metralhado na porta de sua casa, numa ação da VPR.
O pano de fundo estava traçado para o desfecho do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, responsável pelo fechamento do Congresso e a extinção dos resquícios de cidadania ainda ali sobreviventes, num processo que aprofundou a violência da repressão e ao mesmo tempo, instou uma precária resistência, que foi lentamente sufocada ao longo do governo Medici (1969-1974) e assim, uma concentração tão grande de pessoas nas ruas só voltariam a ocorrer com as greves dos metalúrgicos entre 1979-80 e o Movimento das Diretas Já em 1984.
O mais estranho disso tudo é, passados 33 anos do fim da Ditadura, voltam aparecer pessoas exaltando este período, seja por de fato o valorizarem, seja por ignorância histórica e assim, voltamos a ver clamores por uma nova intervenção militar a fim de salvar o Brasil e tal fato é preocupante, pois numa democracia de menos de 50 anos como a brasileira, este posicionamento pode ser fatal para a sua sobrevivência.
(*) – É professor de história do Cursinho da Poli.