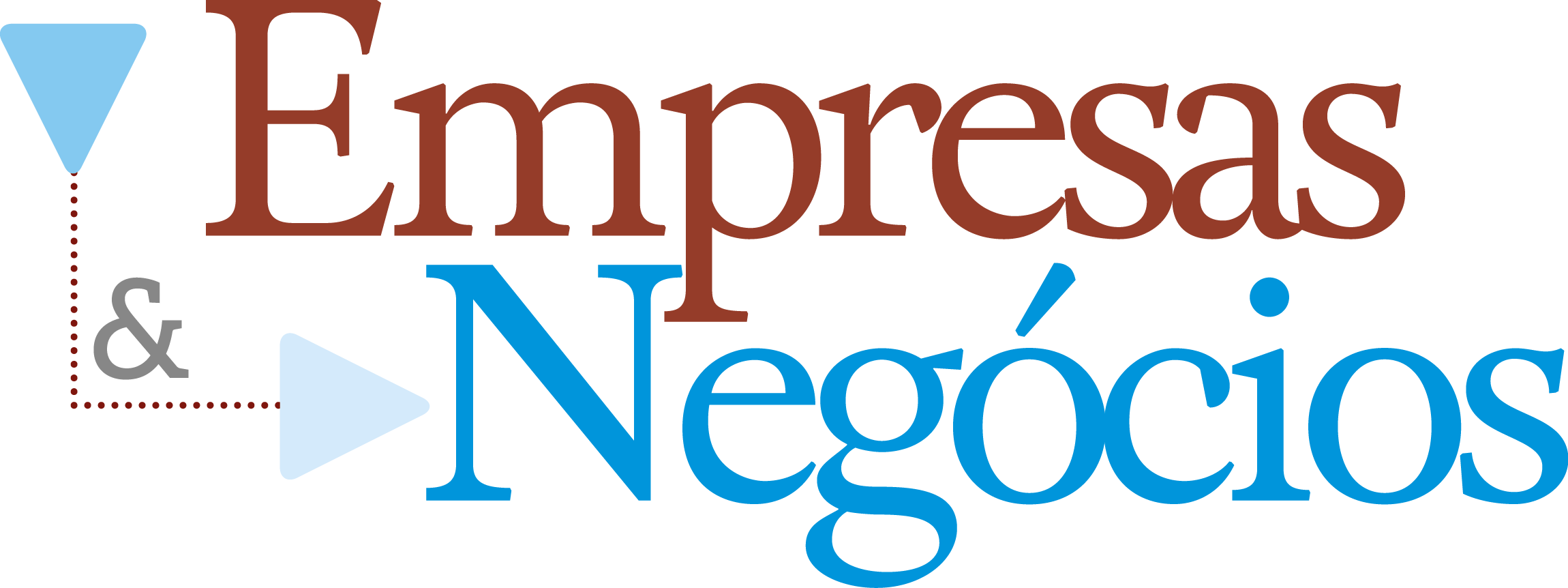Sequestro de embaixador no Brasil moldou política externa dos EUA na Guerra Fria
Usando fontes inéditas, historiadora inclui caso Elbrick em uma sequência de eventos que levou governo norte-americano a endurecer política contra grupos dissidentes em outros países.
Entre 1969 e 1974, no governo Nixon, o fenômeno dos sequestros diplomáticos cresceu em diferentes partes do mundo, a despeito da adoção de medidas de prevenção. Foto: Arte sobre fotos/Wikimedia Commons/Memorial da Democracia
Silvana Salles/Jornal da USP
Depois de ser libertado de três dias de cativeiro no Rio de Janeiro, o embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick deu uma declaração que desagradou os militares brasileiros. Ele afirmou ter sido bem tratado pelos sequestradores, que descreveu como jovens bastante inteligentes; fanáticos, porém muito dedicados ao que estavam fazendo. O episódio do sequestro do embaixador aconteceu há 50 anos, em setembro de 1969, e foi narrado muitas vezes, tanto no papel quanto em filme.
No entanto, foram pouco investigados os fios que ligam o episódio às decisões de política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Uma tese de doutorado defendida no programa de História Social da FFLCH/USP procura refazer essa costura. A tese da historiadora Pâmela de Almeida Resende sugere que o caso Elbrick deve ser entendido como parte de uma sequência de eventos que levou o governo norte-americano a endurecer sua política contra grupos dissidentes que atuavam em outros países, particularmente no que diz respeito aos sequestros diplomáticos.
A interpretação parte da análise de muitas fontes inéditas encontradas em arquivos norte-americanos. A pesquisa também permitiu à historiadora recuperar a biografia de Charles Elbrick, uma figura esquecida após a passagem pelo Brasil. A tese foi intitulada “Ser um embaixador não é um mar de rosas”: o sequestro de Charles Burke Elbrick no Brasil em 1969, em alusão a uma frase atribuída ao embaixador.

O embaixador Charles Burke Elbrick em depoimento à TV Tupi em 15 de setembro de 1969, após o sequestro. Foto: Reprodução/YouTube
“Como você estuda um episódio cujo personagem principal [não aparece em] lugar nenhum?”, questiona Pâmela, referindo-se às diversas narrativas sobre o caso que pareciam encaixadas demais para contar a história toda. “Eu tenho uma impressão muito forte que [houve] uma tentativa de apagamento muito grande, inclusive da figura do Elbrick”, diz ela.
O episódio do sequestro começa no dia 4 de setembro de 1969. Militantes da Ação Libertadora Nacional (ALN) e do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) interceptaram o carro do diplomata na zona sul do Rio e levaram-no como refém. Eles negociaram com o governo brasileiro a liberdade do embaixador pela de 15 presos políticos, mais a veiculação em rede nacional de um manifesto que denunciava a ditadura militar instituída em 1964. Elbrick foi solto três dias depois, com os presos políticos libertos e a caminho do México.
A historiografia brasileira, de modo geral, recontou o episódio como se as negociações pela liberdade do embaixador norte-americano tivessem sido permeadas por pressões do governo dos Estados Unidos para que a Junta Militar que governava o Brasil aceitasse as demandas dos sequestradores. Um dos resultados da pesquisa de Pâmela Resende foi o de derrubar essa percepção.
“A partir de trocas de mensagens, telegrama, documentação diplomática, essa noção da pressão inconteste do governo norte-americano sobre o governo brasileiro não procede da maneira como é dita”, afirma a historiadora. No contexto da Guerra Fria, os debates teóricos da esquerda latino-americana deram uma guinada a partir da Revolução Cubana.
Havia na época uma crítica à “burocratização” dos partidos tradicionais e à influência da União Soviética, e uma parte da esquerda passou a defender a prática de atos de violência como ferramentas legítimas de luta política. Do outro lado, o governo norte-americano respondeu com a consolidação da Doutrina de Contrainsurgência – um arcabouço teórico formulado para combater guerrilhas, inspirado nos manuais que os franceses usaram para reprimir os movimentos de independência da Argélia.
A política de contrainsurgência dos EUA começou a ser construída no início dos anos 1960, mas se consolidou no governo de Richard Nixon, entre 1969 e 1974. A linha do governo Nixon se traduzia na máxima: “Não negociamos com terroristas”. Durante o período, o fenômeno dos sequestros diplomáticos cresceu em diferentes partes do mundo, a despeito da adoção de medidas de prevenção.
A recusa dos americanos em participar das negociações nesses casos se apoiava nos tratados internacionais que atribuem ao país anfitrião a responsabilidade pela segurança dos diplomatas – e, de certa forma, igualava o papel do diplomata ao do soldado que estava sujeito a perder a vida em batalha.
Segundo Elizabeth Cancelli, professora do Departamento de História da FFLCH e orientadora de Pâmela no doutorado, a principal contribuição do trabalho é trazer uma renovação historiográfica para a história da ditadura militar brasileira e da própria Guerra Fria. Ela coordena um grupo de estudos sobre a Guerra Fria que se dedica a compreender a guerra cultural travada no período.
E explica que nos Estados Unidos do final da década de 1960, se por um lado havia um esforço no sentido de combater movimentos insurgentes, por outro já se questionava o apoio às ditaduras latino-americanas. “Com a crise do Vietnã, por exemplo, há toda uma movimentação de intelectuais importantes, liberais, conservadores e neoconservadores, que começam a repensar essa questão das ditaduras”, diz a professora.
Protagonista silenciado
Pâmela pesquisa temas da ditadura militar brasileira desde o mestrado na Unicamp, além de ter trabalhado com a Comissão Nacional da Verdade. Ela conta que estava preparada para se deparar com dificuldades nos arquivos americanos, pois esperava encontrar muitos documentos sob sigilo. No entanto, diz que ficou surpresa ao perceber que havia pouca informação disponível justamente sobre o protagonista do episódio.

Historiadora Pâmela de Almeida Resende. Foto: Marcos Santos/USP Imagens
“Eu acho muito surpreendente porque ele teve um papel fundamental nas relações luso-americanas no tempo em que ele esteve em Portugal, na mediação entre dois presidentes, primeiro o Eisenhower, depois o Kennedy, com o [Antônio] Salazar. E depois na Iugoslávia com a questão do Movimento dos Países Não-Alinhados, a relação do governo da Iugoslávia com a União Soviética. Ele teve um papel fundamental nesses dois momentos e que não aparece em lugar nenhum”, afirma Pâmela.
Charles Burke Elbrick foi um diplomata de carreira que se especializou em Europa Oriental e Península Ibérica. Foi conselheiro da embaixada americana em Cuba e secretário de estado adjunto para assuntos europeus. Serviu em Varsóvia em 1939, de onde teve de sair após a invasão das tropas da Alemanha nazista. Retornou à Polônia para reabrir a embaixada em 1945.
Foi embaixador em Portugal entre 1959 e 1963, um período marcado pelas guerras de descolonização na África e pelas tensas relações entre Washington e a ditadura salazarista. Logo depois, foi para a Iugoslávia do Marechal Tito, onde ficou por cinco anos. A partir de 1969, Nixon se empenhou em redefinir a política dos EUA para a América Latina. Foi nesse contexto que Elbrick foi nomeado para assumir a embaixada no Brasil. O curioso é que Nixon e Elbrick tinham pouco em comum: enquanto o presidente poderia ser adjetivado como um republicano linha-dura, o embaixador era um liberal progressista.
Apesar da máxima do governo Nixon nem sempre ter se alinhado rigorosamente à verdade factual, no caso do sequestro de Charles Elbrick, os documentos mostram que Washington pouco fez para garantir a liberdade do embaixador no Brasil. “Uma das primeiras coisas com que eu tive contato pesquisando foi uma entrevista que a esposa do Elbrick deu já na década de 1980.
Ele já tinha morrido [na época]. Ela está num velório no enterro de outro embaixador e o Nixon está lá também. Na entrevista, ela relata a conversa que trocou (com o Nixon)”, diz a historiadora Pâmela, que reproduziu no trabalho o trecho da entrevista de Elvira Elbrick à Association for Diplomatic Studies and Training, uma entidade norte-americana que coleta registros de história oral da diplomacia. Neste relato, a viúva do embaixador conta:
“(…) então eu disse: ‘Por acaso você lembra de um homem com o nome de Burke Elbrick?’ E ele disse, ‘Oh, sim. Eu o nomeei como embaixador no Brasil’. E eu disse: ‘Você lembra que ele foi sequestrado por lá e que você foi seu Judas e seu Pôncio Pilatos?’ E eu disse: ‘Adeus, Sr. WaterGate’, e fui embora. E esse foi o fim de tudo. Claro, ele provavelmente nunca se lembrará desse arranhão que eu dei nele, mas pelo menos eu me senti bem por isso…”.