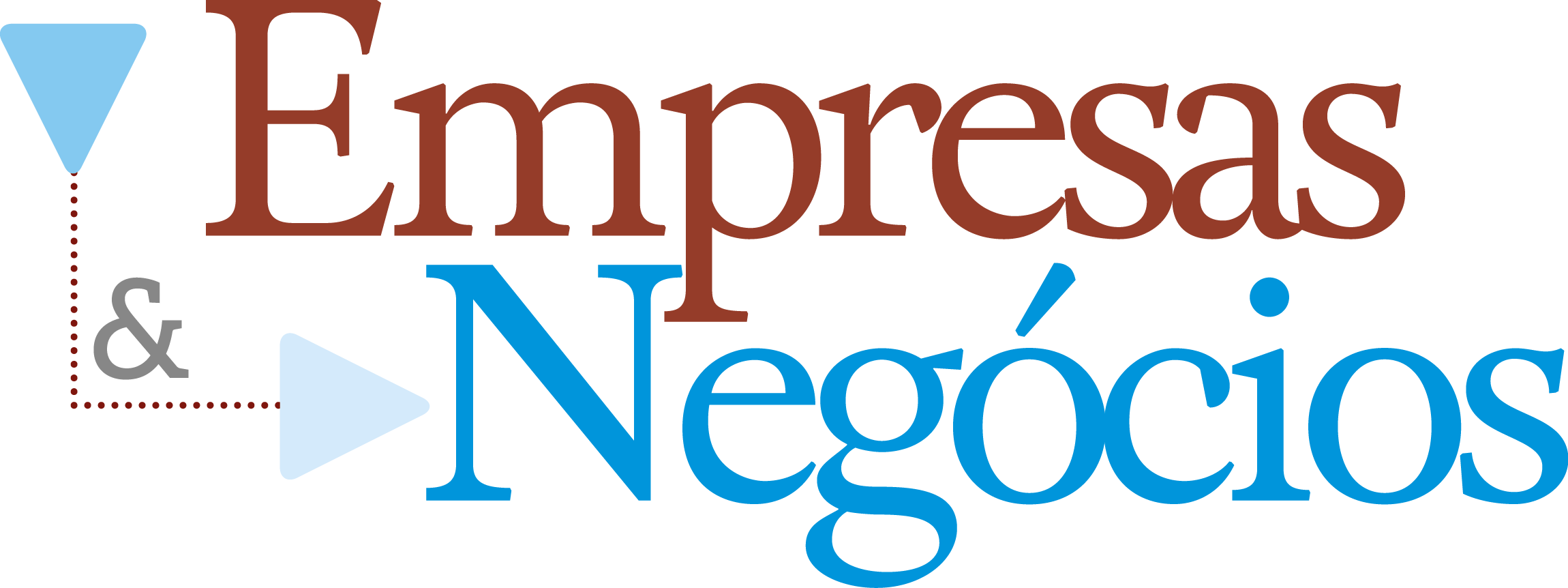Paulo Magnus (*)
Acabo de voltar da Inglaterra, onde observei de perto o modelo assistencial público de Saúde. E sabe o que aprendi? Que um sistema setentão ainda tem muito a nos ensinar. Tornar a Saúde um direito acessível a todos – e não apenas àqueles que podiam pagar por ela – foi a grande motivação para o plano que deu origem ao National Health Service (NHS) no Reino Unido, lá em 1948 – poucos anos após o fim da 2º Guerra Mundial.
Décadas depois, já em 1990, o mesmo NHS inspirou a criação do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, cujo principal mote é assegurar que a Saúde é um direito de todos e um dever do Estado – uma definição que inclusive está na nossa Constituição de 1988. Recorro a essa breve introdução para fazer uma comparação direta entre o que o NHS e o SUS oferecem, em termos de jornada do paciente e acesso ao sistema.
- Diferentes dimensões – Começo ressaltando o alcance de cada um dos sistemas. Dos pouco mais de 67 milhões de habitantes do Reino Unido, apenas 11% (cerca de 7,3 milhões de pessoas) têm acesso à saúde privada. Portanto, 90% são usuários do NHS. Já no Brasil, o percentual de pessoas com planos de saúde chega a ser o dobro, com o agravante de que os números absolutos são muito maiores do que os ingleses: são mais de 49 milhões de beneficiários, o que representa cerca de 23% de toda a população.
E, mesmo entre eles, o acesso ao SUS permanece constante, seja com o Plano Nacional de Imunização ou pela utilização do SAMU – para ficar em exemplos mais corriqueiros. Mas analisar apenas a diferença de tamanho e de número de vidas atendidas nos dois sistemas invariavelmente é injusto. É certo que o NHS até poderia ser classificado como um modelo pequeno em relação ao alcance do SUS, mas isso não faz jus a sua importância como exemplo de atendimento assistencial promovido. Por isso, me atenho a compreender melhor seus modus operandi.
O NHS, por exemplo, prevê um sistema de assistência hierarquizado, cuja porta de entrada é sempre um médico da família, chamado de GP (sigla em inglês para general practitioner, ou seja, um médico generalista). Uma consulta padrão – como, por exemplo, uma dor no braço – acontece da seguinte forma: o paciente liga para uma central telefônica em um horário do dia pré-determinado – que costuma ser pela manhã – e relata o seu problema a um profissional de Saúde, comumente um enfermeiro.
Algumas vezes, a questão pode ser resolvida ali mesmo, com a prescrição de medicamentos que são enviados para a farmácia mais próxima da residência do paciente. Mas em caso de necessidade de atendimento, o GP é que vai retornar ao longo do dia para conversar melhor com o paciente e fazer a anamnese – tudo isso por telefone!
É importante frisar que o GP também realiza todos os pedidos de exames que avalia necessários ao caso e somente quando ele mesmo não consegue evoluir com o tratamento é que o paciente será encaminhado ao especialista, junto com os resultados diagnósticos. Independentemente da forma de contato, seja ela digital ou presencial, eu entendo que esse é o modelo de atendimento adequado e que, muito em breve, deve se perpetuar no Brasil.
No entanto, mesmo com toda a sua experiência nesse tipo de atendimento, o NHS está passando por um ciclo de incerteza, sendo um dos motivos principais, a colocação dos GP para fazerem atividades meramente burocráticas, que poderiam ser substituídas pelo uso da tecnologia para acompanhar toda a jornada do paciente e pelo uso da inteligência artificial para apoiar na triagem e elucidação dos diagnósticos.
O agravante é que essas tarefas diminuem o tempo assistencial disponível para cuidar dos doentes. E imagino que a gente enfrentará algo parecido no Brasil. Especialmente porque é o médico de família experiente que vai regular a assistência de saúde de cada cidadão, independentemente de onde ele estiver: seja por meio da Saúde digital ou em consultas presenciais.
- Uma equipe atenta – No Brasil, por sua vez, o programa Estratégia Saúde da Família (ESF), criado logo no começo do SUS, em 1994 – com outro nome, é verdade -, usa o mesmo conceito de promoção da atenção primária a partir do trabalho de uma equipe multiprofissional formada por médico de família, especialistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagens, além de agentes comunitários.
Todos direcionam seus atendimentos para a comunidade e acompanham os casos de doenças crônicas de perto. E como o modelo tem sido bem-sucedido em seus desfechos clínicos e financeiros, a saúde suplementar tem começado a investir mais para criar seus próprios programas de atenção primária e oferecer aos beneficiários um atendimento personalizado para a aplicação de uma medicina preventiva de fato.
Nesse sentido, cito as operadoras Hapvida e Prevent Senior, juntamente com algumas Unimeds, como as poucas que já conseguiram adotar o modelo de forma bem-organizada. As demais operadoras de Saúde, no entanto, permanecem oferecendo acesso livremente, ou seja, o beneficiário pode consultar o médico que desejar, a hora que quiser e realizar todos os exames que pedir.
Só que esse tal “livre acesso” invariavelmente implica em refação de exames, diagnósticos laboratoriais e de imagem, além de consultas por vezes desnecessárias, multiplicando os já elevados. Eu entendo, claro, que todo cidadão gosta e busca ter liberdade para fazer o que quiser, até mesmo com a sua própria saúde, mas é preciso que todos saibam que esse ato provoca um custo infindável.
A solução, a meu ver, está justamente na hierarquização do sistema, ou seja, determinar que a porta de entrada da saúde suplementar seja também via médico da família ou por um conjunto de profissionais médicos generalistas responsável por atender um grupo de pessoas de uma mesma comunidade – como acontece na Inglaterra.
- O futuro é hierárquico – Imagine então se a saúde suplementar brasileira se inspirasse tanto no NHS quanto no SUS e criasse seus próprios comitês de médicos generalistas para atender grupos de beneficiários? Algumas operadoras estão seguindo esse caminho, é verdade, mas estou me referindo ao sistema como um todo. anexo 1
Esse tipo de hierarquia a que eu me refiro, se expandiria daquela que já existe hoje no Brasil para a regulação da interação e não se restringiria apenas a aceitar ou negar o procedimento em si. Ao contrário, ela acompanharia o paciente em toda a sua jornada pelo sistema, sempre em busca do melhor desfecho clínico possível.
Todo esse acompanhamento da história clínica do doente passa pela integração de dados pelos sistemas, um movimento no qual o paciente se torna o verdadeiro proprietário de seu dado de Saúde e elege um profissional generalista para acompanhá-lo de perto.
Nos últimos anos, temos viajado o mundo entendendo como a tecnologia pode ajudar a salvar vidas. Também notamos como o nosso Global Health, com a integração de toda jornada e a monitoração de todos os dados do paciente, está aderente a tudo que encontramos de melhor no mundo. Somente assim a gestão em Saúde será capaz de oferecer uma melhor assistência a um menor custo possível.
Que a gestão da Saúde caminhe nesse sentido!
(*) – É CEO da MV, multinacional brasileira especializada na transformação digital da saúde (https://mv.com.br/).