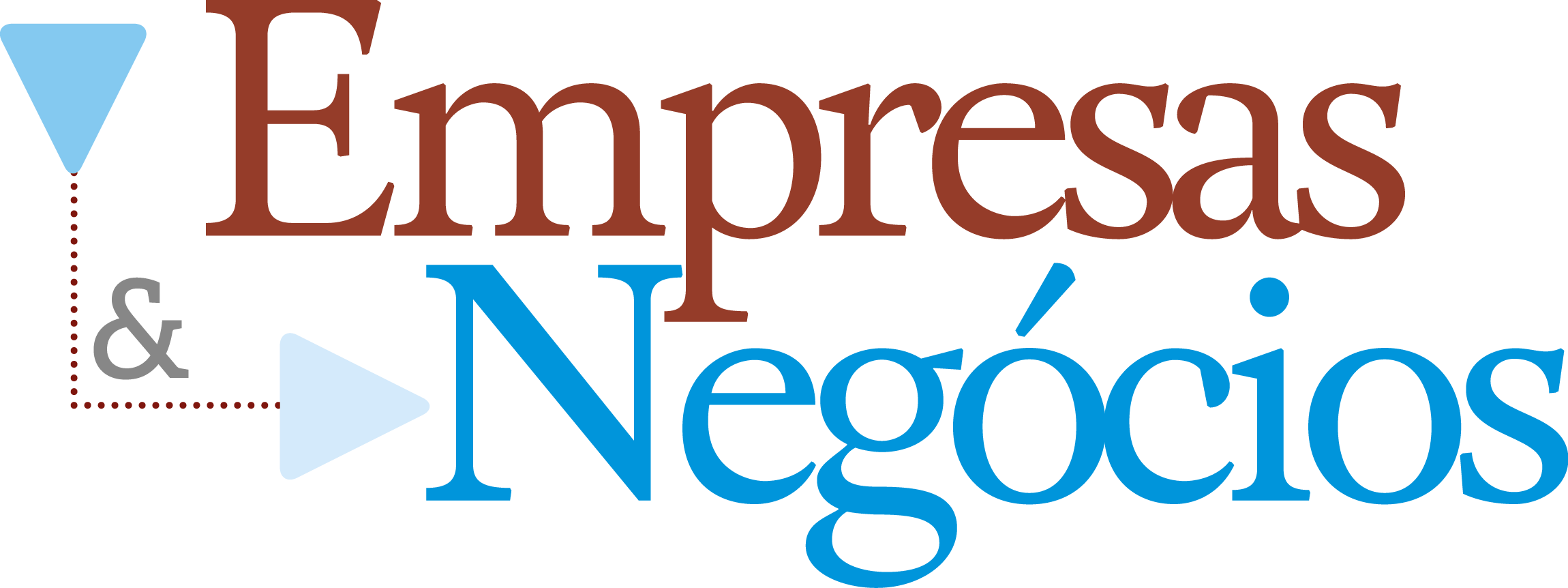Carine Roos (*)
Se você ainda não foi picado pela mosca rosa do filme Barbie, com certeza, ainda será. O fenômeno pink já entrou para a história das bilheterias brasileiras como o segundo maior dia de estreia no país — atrás apenas de Vingadores: Ultimato (2019), mas seu sucesso está só começando.
Segundo dados da Comscore, o filme de comédia estrelado por Margot Robbie arrecadou S$ 528 milhões ao redor do mundo e aqui faço um parênteses para ressaltar que é o primeiro filme dirigido por uma mulher, Greta Gerwig, que bateu recorde de arrecadação.
O alvoroço também é sentido nas ações da Mattel (MAT) desde o anúncio do longa. Para se ter ideia, as ações já acumulam um salto de 17,64% na Nasdaq este ano. A Mattel projeta o faturamento — nada modesto — de até US$ 950 milhões em 2023, impulsionados pelo licenciamento de produtos usando a imagem da Barbie e o pagamento de royalties.
Pelos números, é imprescindível ressaltar que mesmo a crítica em cima do patriarcado e do capitalismo, o filme não é revolucionário. Aliás, usa das bases do capitalismo para fazer um rebranding da boneca, apropriando-se de toda a imposição da ditadura da beleza das mulheres para lucrar em cima e se tornar um trend mundial.
O capitalismo tem sido uma força motriz por trás do sucesso da marca Barbie desde o seu lançamento em 1959. Ao longo dos anos, a boneca tornou-se um ícone do consumismo e um símbolo do materialismo, representando uma imagem de perfeição estereotipada – a propósito, esse é o nome da personagem principal, Barbie Estereotipada – e moldando padrões de beleza inatingíveis, movimentando milhões nas indústrias de cosméticos, moda e na cirurgia plástica. Por outro lado, se mostrava uma mulher independente, com várias profissões, dona de si e livre das amarras de um casamento.
Agora, temos de ter um pouco de cautela. Fazer Barbie virar feminista da noite para o dia com um roteiro que trata de maneira soft assuntos que estão sendo revistos pela sociedade e pelas empresas é ir longe demais. Tudo que ela é, com suas roupas, acessórios e tudo mais, mesmo que atenta a questões de diversidade e empoderamento não passa de um produto que trouxe, assim como o filme “feminista”, lucros inestimáveis para a Mattel. Podemos até falar em reparação, mas não podemos ser ingênuos que as armas usadas são aquelas que perpetuam o sistema vigente.
Vale aqui uma referência a sua criadora, Ruth Handler, que descobriu um nicho de mercado quando percebeu que não existiam bonecas adultas para meninas. A maioria era bebe, reforçando o papel da economia do cuidado, ainda designado predominantemente às mulheres. Ruth quebrou várias barreiras em sua época. Trabalhou quando era adolescente, viveu longe da família, com amigas, e decidiu voltar a trabalhar depois de casada. Ela e o marido, Elliot, fundaram a Mattel quando ela tinha 30 anos, e a boneca quando tinha 43. No filme, ela aparece como um fantasma que vive em um dos andares da sede onde predominantemente trabalham homens e faz ironia a sua condição com os problemas financeiros que enfrentou nas cenas finais.
Para o papel das mulheres dentro das companhias, cabe ao de secretária com talentos não reconhecidos que acaba sendo o elo entre a fictícia Barbieland e o mundo real. Glória, representada pela America Ferrera, de descendência latino-americana, é responsável por um monólogo onde mostra como é terrivelmente difícil ser mulher em uma sociedade patriarcal. Para as grávidas, a realidade é mais cruel. A boneca foi ”descontinuada” e em todas as cenas aparece em segundo plano.
Cabe, também, servir de coadjuvantes, artistas asiáticos, trans (a atriz e modelo trans Hari Nef foi escalada para viver a Barbie Médica), gordas e negras. Para dar mais uma forçada no politicamente correto, a presidente da Barbieland é uma boneca negra, mas sem dar a ela uma representatividade legítima. O filme é calcado em um protagonismo branco, masculino e hétero. Basta ver a tentativa de “revolução” de Ken que deixa de ser o namorado da Barbie para implantar o patriarcado no mundo dos brinquedos fazendo uma lavagem cerebral nas bonecas. Ao final, ao perder o suposto poder, sai a procura de qual o papel do homem quando se fala de equidade de gênero.
Aqui levanto um outro ponto importante que devemos desenvolver com as lideranças: a vulnerabilidade. Tanto Ken quanto Barbie se tornam “humanos” quando deixam que suas emoções falem mais alto que os padrões estabelecidos impostos. As empresas erram, pois são comandadas por pessoas que em determinada situação não possuem repertório ou consciência para agirem de outra forma. Isso também não as redime da responsabilidade social que é perpetuar as relações de poder sem transformá-las.
Assim como a Mattel, existe uma longa jornada que as empresas comprometidas com a verdadeira justiça social e a equidade devem traçar, partindo para rever suas estruturas internas, o impacto socioambiental gerado, e como podem verdadeiramente contribuírem com um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o planeta.
Como sociedade, devemos refletir sobre como consumimos e perpetuamos certos padrões de consumo, estigmas sociais, buscando equilibrar os aspectos comerciais e entendendo que uma opressão invertida não é a solução. O caminho é longo. E o filme é apenas uma pequena ponta do iceberg para aprofundarmos essa discussão.
(*) É CEO e fundadora da Newa.