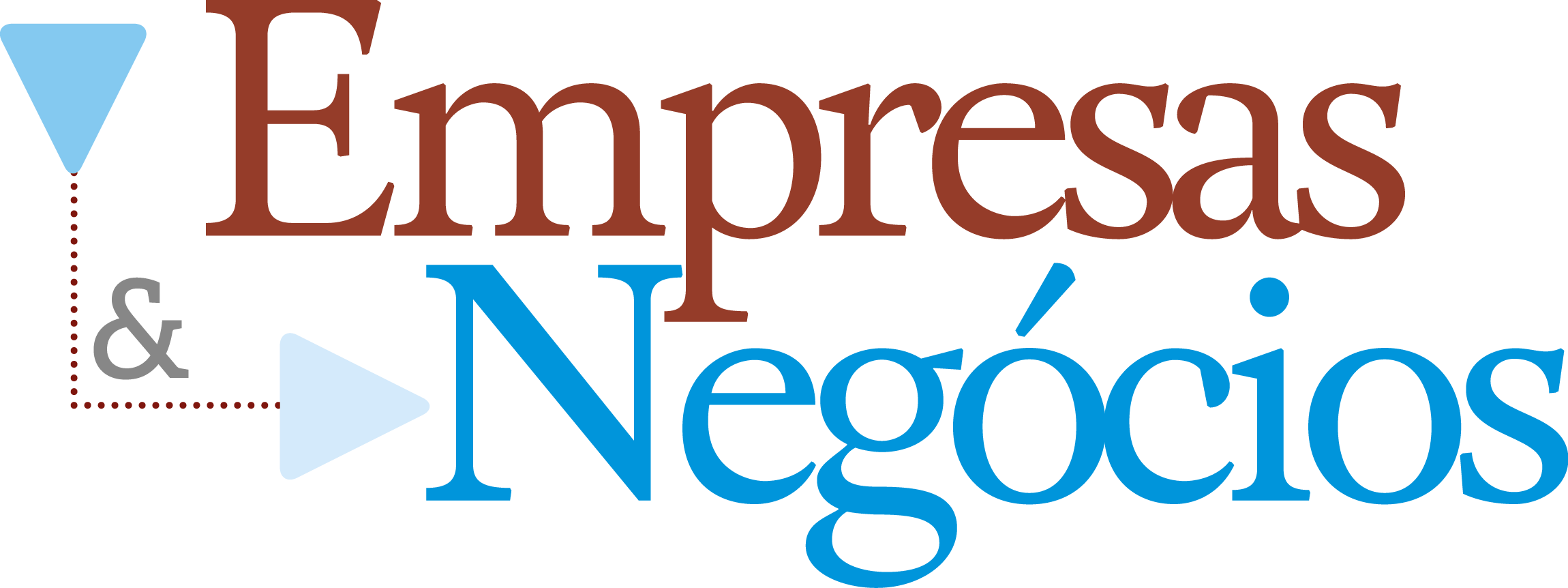Saí da Igreja do Rosário, andei por São Paulo e tropecei na históriaPaís busca soluções para aumento de judicialização na saúde
Como a busca por edifícios e lugares tombados revela nosso desconhecimento sobre a cidade
O templo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos remonta ao século 18: metamorfoses |
Luiz Prado/Jornal da USP
Quando a cachaça joga maio de volta ao verão no meu estômago, sacudo a cabeça, deixo três moedas no balcão do bar e ganho o asfalto. O Largo do Paiçandu está um campo de refugiados. Barracas, lonas, distribuição de comida, equipes de tevê, curiosos e sim, claro, gente. As famílias e os sem-família do Wilton Paes de Almeida, o prédio que pegou fogo na madrugada do dia primeiro. Do edifício de 24 andares só resta o som dos escombros escavados, um espectro auditivo da tragédia.
Lembro da foto que chegou por e-mail, a imagem aérea do perímetro do desastre. Exaurido de desgraça, o olhar foi seduzido pela igreja de muros amarelados, subversiva em meio ao cinza de tudo: prédios, ruas, céu. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Um ponto ensolarado, quase lembrança de cidade pequena, obscenidade alegre em torno da qual orbita o crescimento urbano. Anônima, não fosse o crescendo humano de desabrigados fazendo vizinhança. Desconhecida, mesmo tombada e preservada pelo poder público.
 Essa igreja justifica minha missão hoje. Concreto e cimento. Procuro história e arquitetura. Tenho uma lista que começa por esse templo. Edificações e lugares tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o Condephaat. E sonegados ao olhar pelo entorno. Levanto os olhos, lanço despedidas aos aflitos e focalizo o primeiro alvo. Construção singela, símbolo pronto de toda essa dor, esperança, fé, resignação, força e falta. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, encravada no centro do largo, é a personificação arquitetônica da situação que se multiplica ao meu redor.
Essa igreja justifica minha missão hoje. Concreto e cimento. Procuro história e arquitetura. Tenho uma lista que começa por esse templo. Edificações e lugares tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o Condephaat. E sonegados ao olhar pelo entorno. Levanto os olhos, lanço despedidas aos aflitos e focalizo o primeiro alvo. Construção singela, símbolo pronto de toda essa dor, esperança, fé, resignação, força e falta. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, encravada no centro do largo, é a personificação arquitetônica da situação que se multiplica ao meu redor.
Materialização da devoção da irmandade que ostenta o mesmo nome, o templo remonta ao século 18, quando a empobrecida confraria formada por negros ergueu sua primeira capela em algum lugar do Vale do Anhangabaú. Em 1737 já estava de mudança, uma nova igreja instalada na Praça Antonio Prado. As metamorfoses da cidade em expansão expulsaram o templo em 1903, arremessando-o dessa vez para o sítio onde permanece até hoje. Os remanescentes do cemitério da Irmandade, nessas trajetórias tradicionais da política brasileira, acabaram com o irmão do prefeito de São Paulo, Martinico Prado.
Um camafeu tímido, circundado por prédios mais modernos que sobem como muralha fazendo sombra em sua torre. Apequenada por dimensões como as da Galeria do Rock e da Galeria Olido, a igrejinha amarela encara cotidianamente irmãos mais novos encorpados, que disputam sua existência junto aos olhos de quem passa com pressa. Uma lei mantém suas paredes em pé, mas fazem qualquer coisa por seu sol e nossas atenções?
“O tombamento é um dos instrumentos de proteção jurídica e física do patrimônio.” Lembro-me dessas palavras ditas por Simone Scifoni, professora da Faculdade de Filosofia da USP e conselheira do Condephaat. Nossa conversa foi por telefone, uma orientação para o olhar que ardia com tanta materialidade. “Agora, nem sempre os instrumentos jurídicos conseguem garantir a proteção efetiva desses patrimônios. Essa é a principal problemática da preservação”.
 De volta ao centro. Ignoro a inspiração de Caetano Veloso e tomo a São João, não em direção à Ipiranga, mas procurando tudo que não é espelho. Um sinal fechado para pedestres abre as comportas do aluvião de motos, carros, ônibus e buzinas que me separa do calçadão-ladeira. Os veículos, glóbulos vermelhos mantendo viva a cidade, ao mesmo tempo intoxicando-a com gás carbônico, poluição sonora e estresse. A modernidade é o remédio e o veneno do mundo.
De volta ao centro. Ignoro a inspiração de Caetano Veloso e tomo a São João, não em direção à Ipiranga, mas procurando tudo que não é espelho. Um sinal fechado para pedestres abre as comportas do aluvião de motos, carros, ônibus e buzinas que me separa do calçadão-ladeira. Os veículos, glóbulos vermelhos mantendo viva a cidade, ao mesmo tempo intoxicando-a com gás carbônico, poluição sonora e estresse. A modernidade é o remédio e o veneno do mundo.
É essa modernidade que oprime, ombro a ombro, o pálido edifício do Conservatório Dramático Musical. Suas linhas são delicadas, um DNA impregnado de linguagem neoclássica, com salas que abrigaram o professor Mário de Andrade, também diretor da instituição. O prédio data de 1895, quando já contava com uma sala de espetáculos. Em 1896 cresceu para se tornar um hotel. O conservatório chegou em 1908. Desde 2013, foi fagocitado pelo Complexo Cultural Praça das Artes, que esmaga as paredes claras do prédio e insinua para a estatuária no topo a hora de dizer adeus.
“Na legislação, tanto federal como estadual e municipal, existe o instrumento da área envoltória.” Novamente, a voz de Simone. “É um perímetro em torno do bem tombado no qual qualquer obra ou intervenção tem de ser avaliada pelo órgão de preservação, tendo em vista proteger sua característica histórica, a visibilidade, o destaque e a fruição visual. O problema é que nas áreas centrais da cidade o interesse imobiliário é muito grande e isso tem feito com que os órgãos de preservação sejam muito flexíveis em impedir essas obras no entorno.”
Perante a fachada deserta, ninguém menciona interesse. Olho em volta e a vida parece prescindir de um Conservatório Dramático Musical tombado. Corro para seus portões e agito as grades, tento sentar em seus degraus, hesito junto ao mau cheiro. Espanto pombas, me faço de desvairado. O conservatório não existe. As pessoas desfilam diante de um fantasma. Se existisse um rombo no céu, como o Wilton Paes de Almeida, o edifício ruído, faria diferença? Ausência chamaria mais atenção que presença?
Assustado com aparições e nulidades, corro de volta pela São João, disparo em busca de vida. Tenho instantâneos de antigos cinemas de rua, deliro com a cinelândia paulistana virada em estacionamentos e diversões adultas. A gente indo e voltando numa cidade cenográfica. Cada prédio sangra uma história e novos blocos de concreto, pinturas, vidros espelhados e fachadas estancam as décadas até o esquecimento.
Sim, eu pedi respostas a Simone. Como sensibilizar as pessoas? Qual é o caminho para o passado preservado agarrar o presente?
“Nós podemos investir em políticas de educação patrimonial para que o conhecimento sobre a história desses prédios e lugares protegidos chegue à população, para que ela conheça as razões e motivações que levaram ao tombamento.” Isso só não basta, contudo. O afeto. Um abraço metafórico cotidiano precisa acontecer. “Por vezes, os grupos sociais não conhecem a informação histórica, mas, mesmo assim, têm uma relação afetiva, de fruição com esses bens. Isso cria um significado para eles. Não é necessariamente a falta de informação histórica que está na raiz do problema. Esse valor afetivo, os bens permanecerem no cotidiano das pessoas, é o que acho mais significativo. É o que leva as pessoas a demandarem patrimônio”.
Quando me acalmo é o Edifício Esther que domina o panorama. Estou na Praça da República, entre jogadores de búzios, garotos de programa e comida frita. A construção do outro lado da rua é concreto armado e alvenaria desde 1938, o primeiro prédio de grande porte lançado ao céu pela cidade. Cheio de gente em conjuntos comerciais e apartamentos residenciais, outra preservação assegurada pelo Condephaat. Sigo enfiado em ruas escurecidas por prédios, os cânions da modernidade que fazem zigue-zague no terceiro mundo. Vendedores africanos, lojas de telefonia móvel, mesas na calçada e cervejas nos copos. Tudo ao mesmo tempo agora, sentidos hiperestimulados e qual é a importância de alguns prédios velhos?
Faço pouso no Largo da Memória. Sou um tropeiro moderno, repisando o chão do antepassado Largo do Piques. Aqui era um barranco e a modernidade começa com esse obelisco de 1814, construído por Vicente Gomes Pereira, o Mestre Vicentinho, sob projeto de Daniel Pedro Müller. Foi o Centenário da Independência que levou Washington Luís, em 1919, a contratar o francês radicado no Brasil Victor Dubugras para reformar o largo. Estilo neocolonial, um chafariz e azulejos pintados por José Wasth Rodrigues. Poderia caminhar o dia todo, virar noite, dormir num hotel barato e continuar investigando o passado que persiste, puxado por legislação e empenho. Igrejas, prédios, praças: que orações secretas esse vocabulário de cimento escreve no território?
 O dicionário é imenso para a capacidade do olhar. Na Sé, agarro a Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, a Garagem Riachuelo e o Solar da Marquesa de Santos. Na Liberdade, decifro o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a Capela dos Aflitos. Que propício! Estou num beco e me sinto um personagem, poderia ser protagonista literário. A Capela dos Aflitos. Nossa Senhora dos Aflitos é cultuada atrás dessas paredes e por aqui esteve também o Cemitério dos Aflitos, a primeira necrópole pública da cidade. A taipa e o pilão ergueram os muros do templo em 1774, o tijolo e o concreto armado vieram depois.
O dicionário é imenso para a capacidade do olhar. Na Sé, agarro a Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, a Garagem Riachuelo e o Solar da Marquesa de Santos. Na Liberdade, decifro o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a Capela dos Aflitos. Que propício! Estou num beco e me sinto um personagem, poderia ser protagonista literário. A Capela dos Aflitos. Nossa Senhora dos Aflitos é cultuada atrás dessas paredes e por aqui esteve também o Cemitério dos Aflitos, a primeira necrópole pública da cidade. A taipa e o pilão ergueram os muros do templo em 1774, o tijolo e o concreto armado vieram depois.

A inauguração do cemitério da Consolação em 1858 selou o destino do lugar. Loteado a particulares, o terreno viu crescer construções ao redor da capela e ficou apenas a aflição. “O controle da sociedade sobre as decisões e o funcionamento dos órgãos de preservação é fundamental para garantir a eficácia da manutenção desse patrimônio reconhecido.” As respostas de Simone continuam a ecoar. “Quanto mais a sociedade tiver acesso e controle, quanto mais puder acompanhar o que é decidido e compreender o significado das decisões, mais nós temos a possibilidade de garantir a proteção desses bens. Porque o fato de estar tombado, de estar protegido legalmente não significa que, na prática, essa proteção se viabiliza.”
Séculos de ideias, trabalhadores, cimento, concreto, moradia, religião, escritório, pombas, moradores de rua. A cidade me vê enquanto penso. Eu continuo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário saiu do eclipse. Por quanto tempo? A cidade chama a sociedade para permanecer viva.