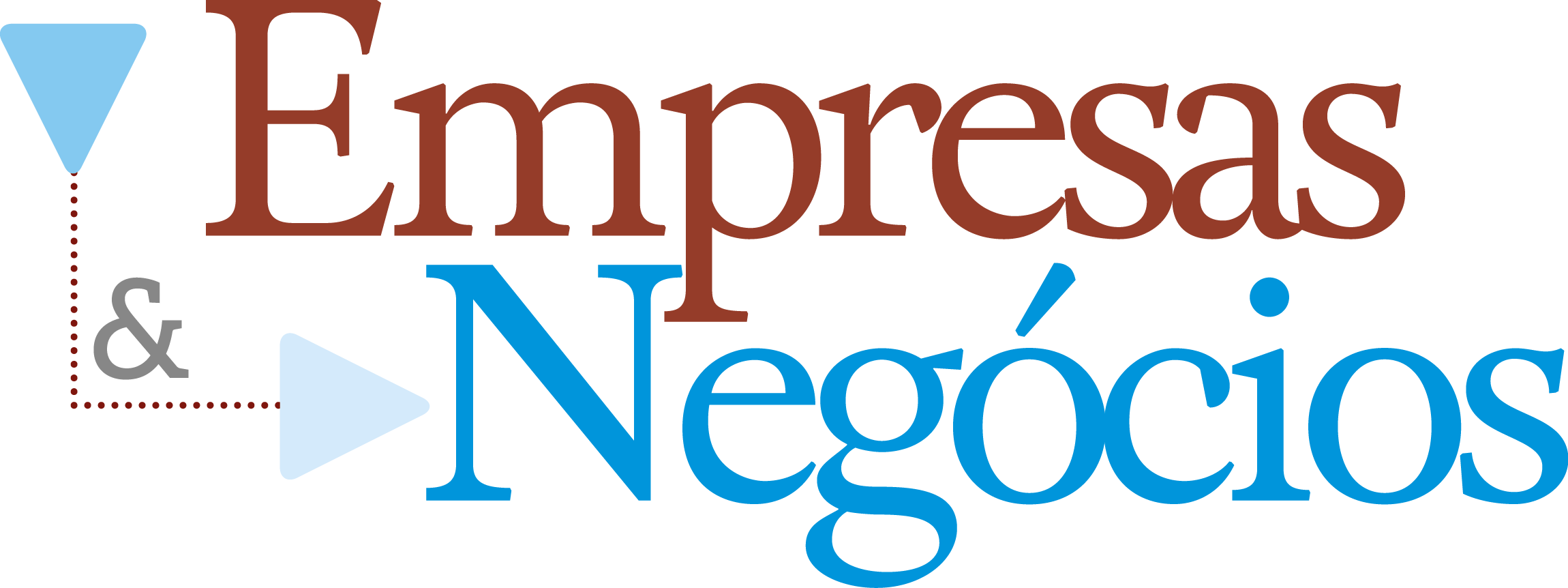Antonio Rios (*)
Há algumas semanas, ouvi uma conversa entre dois amigos que estavam há muito tempo sem “colocar as novidades em dia”.
Durante o bate-papo, um deles contou sobre seus planos profissionais e citou – meio que ‘en passant’ – sobre o desafio de educar sua filha pré-adolescente em tempos de home office e aulas on-line. Como entusiasta do setor de educação há vários anos, transportei minhas atenções ao relato do pai e busquei entender, sem interferir no diálogo, qual era sua visão sobre “a nova realidade” do ensino.
Tanto o pai, quanto a filha, atualmente com onze anos, precisaram adequar suas rotinas e até mesmo os cômodos da casa para comportar as “novas” estações de estudo e trabalho. Em certo momento, o outro interlocutor questionou seu amigo se ele aprovava a mudança, e a resposta não foi nem positiva, nem negativa, mas neutra, presente em meio àqueles tons acinzentados das verdades não-absolutas, que parecem não existir mais em tempos de julgamentos precipitados pela sociedade, insuflados pelas redes sociais.
Dizia o homem que sua filha pôde ficar segura em seu quarto nos últimos doze meses, longe o bastante do vírus, para estudar os conteúdos do 5° ano enquanto assistia a professora pela tela do computador ou smartphone. Então pensei comigo mesmo: ótimo para a jovem, mas essa não é a realidade de grande parte dos brasileiros.
O IBGE calcula que 4,3 milhões de estudantes entraram na pandemia sem acesso algum à Internet, seja por falta de dinheiro para contratar o serviço ou comprar aparelhos, seja por indisponibilidade do serviço nas regiões onde viviam. Por outro lado, a garota também sofreu com a saudade dos colegas e até mesmo de todos os rituais que envolvem uma rotina dentro da sala de aula.
Todos sabemos o que isso significa, ainda mais em uma idade em que buscamos nossa própria identidade. Nesse contexto, a tecnologia pode ajudar de forma consistente o processo de aprendizado, mas não pode jamais ser a única chave para uma revolução no sistema educacional, concluímos os três – os dois amigos e eu, o bisbilhoteiro – após uma produtiva e amigável discussão entre eles. O educador Jon Bergmann, criador da teoria da “sala de aula invertida”, defende essa ideia há vários anos.
Ele acredita que a tecnologia não deve ser o “ponto de ebulição” do novo momento da educação, mas sim uma ferramenta a mais para que professores e instituições busquem aumentar o engajamento dos estudantes. A aula virtual é um caminho sem volta, mesmo após o fim da pandemia, não podemos negar, mas não deve ser encarada como primeira opção para os ensinos primário e médio. Até porque a prioridade sempre deverá ser a relação professor/aluno, que não pode ser substituída por tecnologia nenhuma.
E as gerações Z e Alpha, nascidas a partir de 1995, têm mostrado que uma mudança na metodologia, e não no formato, precisa ser repensada o quanto antes. Prova disso é o recente relatório divulgado pela Dell Technologies, que concluiu que 85% dos empregos para esse grupo de novos profissionais ainda não foram inventados pelo mercado.
Como preparar esses alunos e estruturar a escola para que capacite de forma cidadã e “antenada” nossos futuros trabalhadores? Essa deve ser a grande pergunta a ser respondida pelo setor de educação no Brasil e no mundo nos próximos anos. A resposta está a caminho e deverá considerar uma visão “fora da caixa”, que esteja conectada aos anseios dos alunos de hoje e do futuro.
(*) – É Superintendente do Grupo Marista.