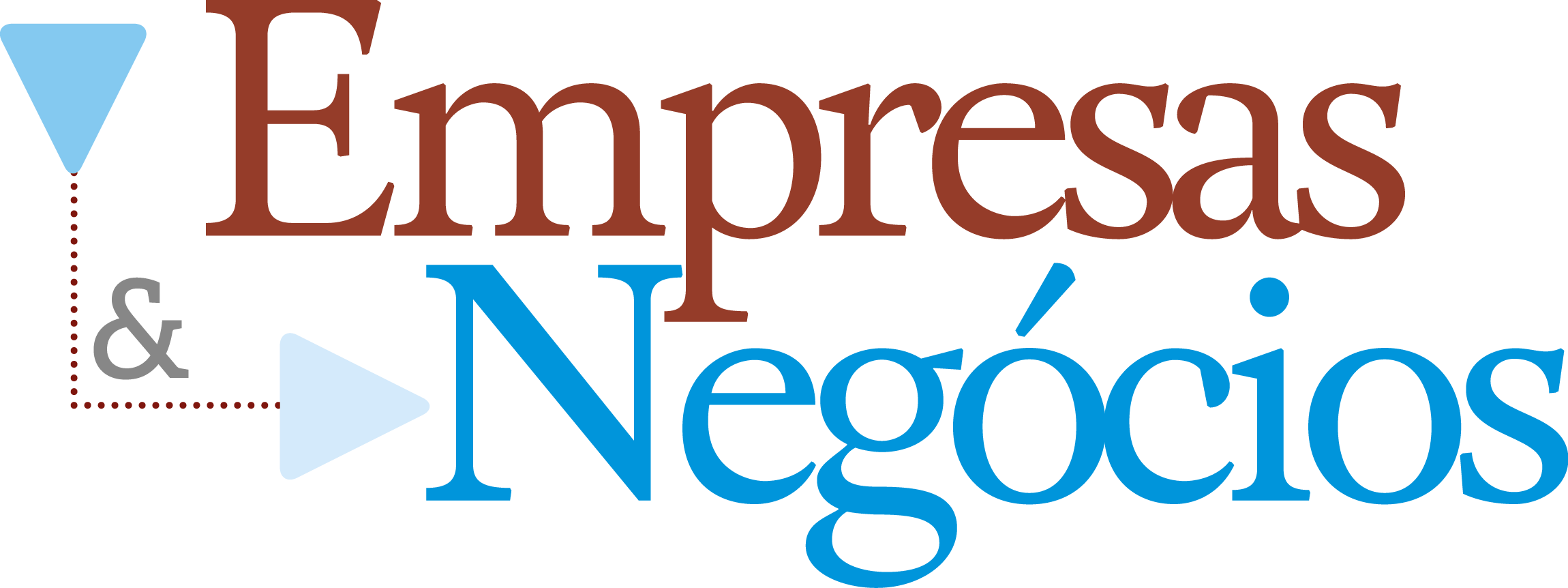Heródoto Barbeiro (*)
A ameaça da guerra justa está de volta. A Convenção de Genebra exige que todos os Estados submetam a um exame jurídico todas a novas armas e métodos de guerra.
Uma utopia que acalenta os pacifistas há pelo menos um século. O uso do gás de mostarda não se submeteu a esse controle e os alemães mataram na Primeira Guerra Mundial milhares de soldados inimigos nos campos da Europa. Também não valeu para as duas bombas atômicas jogadas pelos americanos sobre Nagasaki e Hiroshima em 1945. Foi uma destruição em massa da população civil.
Os episódios têm se repetido em outros confrontos contemporâneos, como o uso de gás na guerra Irã e Iraque e mesmo na atual guerra civil que infelicita a população da Síria. O ditador de plantão nega, mas as imagens de crianças sendo lavadas para tentar sobreviver ao gás são testemunhas irrefutáveis dos assassinatos em nome sabe-se lá do quê. Há outros inúmeros exemplos de genocídios ao longo dos últimos dois séculos do que se convencionou chamar de civilização.
Atrás de sucessivos massacres existe a doutrina da “guerra justa”. Ela propõe o respeito às regras de combate. A tortura e o exibicionismo da aniquilação do inimigo não podem caber nessa doutrina. Seja pela atual utilização cada vez mais intensa de drones, ou os espetáculos dantescos do chamado Estado Islâmico, ao transformar uma cena de tortura e degola de prisioneiros em uma espetacularização global, graças ás redes sociais ao alcance de todos.
A tal doutrina nada pode fazer por exemplo, se um soldado desobedecer aos superiores e ás ordens militares. Isto faz dele apenas um instrumento útil e inocente, ou um assassino que cumpre as ordens mesmo que elas choquem tudo o que considera ético e humano? Essa questão sofre um debate desde os tempos do julgamento de Nuremberg. Essas práticas proporcionam o aumento de um ódio visceral contra seus autores e uma consequente retaliação ou nos mesmos moldes, ou ainda piores.
É a cultura do ódio contra uma pessoa desconhecida e que aparentemente nunca fez nada que merecesse esse castigo. Essa obsessão não é nova. Os exércitos sempre tentaram melhorar o desempenho de seus soldados com métodos que equivalem à volta à barbárie. O que interessa é liquidar o inimigo e ganhar a contenda.
Ainda que o termo “guerra justa” esteja escrito na Convenção de Genebra, ele é totalmente subjetivo. Forma-se no horizonte mais um exemplo com as provocações da ditadura da Coréia do Norte aos seus vizinhos aliados dos Estados Unidos. Se o ditador disparar os seus mísseis a represália da maior potência militar do mundo seria devastadora. Não se deve levar na brincadeira a ameaça de retaliação do presidente Trump.
Seria uma “guerra justa” ainda que, mais uma vez a população civil seria massacrada. Unir as duas Coréias sob o domínio da família Kim também pode ser considerada uma “guerra justa” pelo atual ditador e seus militares. A expressão já foi usada muitas vezes, desde as guerras dos senhores feudais na Idade Média. O mesmo valeu para os caçadores de índios para vende-los como escravos nas plantações de cana de açúcar que se desenvolviam no Brasil do século 17.
Valeu também para os traficantes de negros que assaltaram as civilizações africanas para obter mão de obra barata para a agricultura que se implantou nas Américas. Prender, torturar, traficar, espancar, impor um regime de força e violação dos princípios humano foi entendido como uma “guerra justa”. Ainda hoje há seus defensores espalhados por todo o mundo. Com os avanços da tecnologia e da capacidade de destruição dos armamentos atuais não se sabe, ou melhor, se sabe onde tudo isso vai chegar.
É possível que antes que os estragos do aquecimento global, apareça um Doutor Fantástico, como mostrou profeticamente Stanley Kubrick.
(*) – É jornalista, âncora do Jornal da Record News e professor emérito da ESPM.