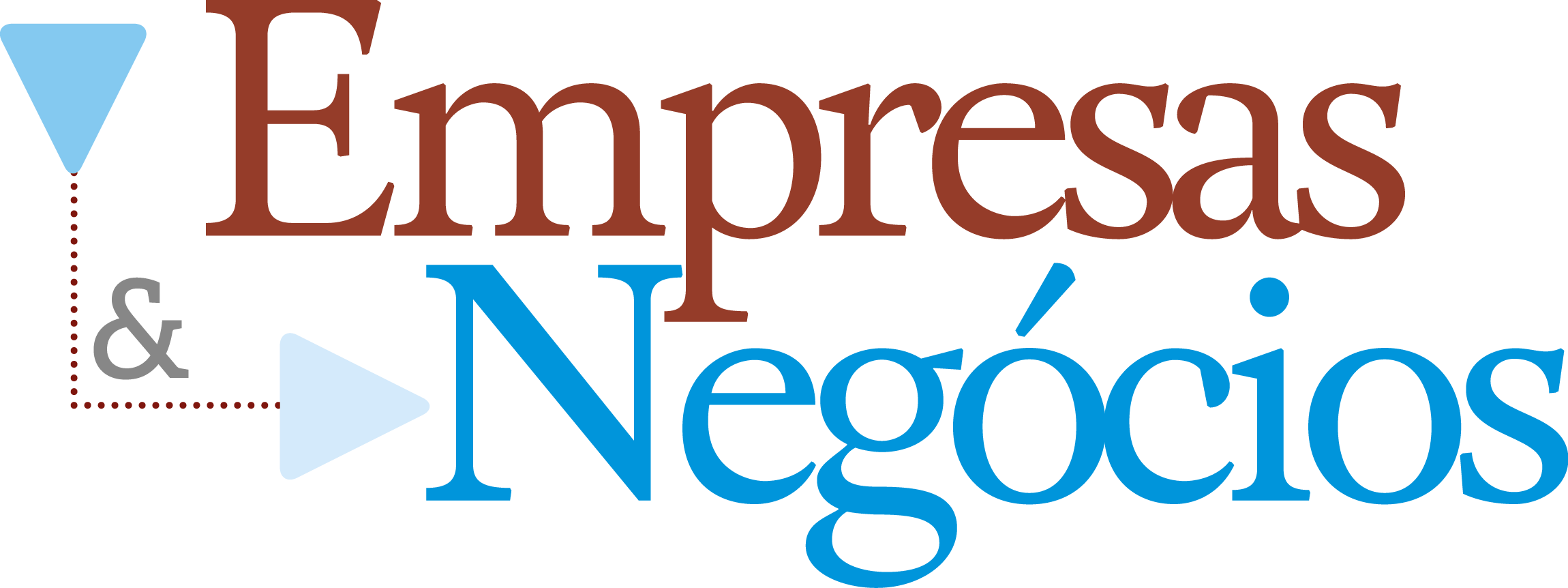Rosane Chene (*)
“Há tempos são os jovens que adoecem […]”, o verso entoado na voz do cantor e compositor Renato Russo, há mais de 40 anos revelava uma percepção triste sobre a sociedade brasileira da época, o agravamento de questões de saúde mental. Infelizmente, o sonoro “grito” de alerta sobre o tema, descrito pelo músico, não trouxe efeitos imediatos. A situação pouco mudou, ou melhor, se agravou.
Segundo a Organização Mundial da Saúde estima-se que 14% das crianças e adolescentes no mundo têm algum tipo de transtorno mental. Na realidade brasileira, com um cenário ainda mais complexo, quem adoece primeiro são as crianças. Entre 2011 e 2022, a taxa de suicídios na faixa etária entre 10 e 24 anos cresceu 6%, e a de autolesões, 29%, segundo análise realizada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Bahia, com base em dados do Ministério da Saúde.
Além disso, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria em 2023, entre crianças e adolescentes atendidos no sistema público de saúde, cerca de 20% apresentam transtornos mentais como ansiedade e depressão.
Esse cenário desolador possui ainda mais agravantes a depender do CEP, raça e gênero. Uma parcela da população ainda é esquecida, tanto pelo setor público quanto privado, ao falarmos do acesso a cuidados e tratamentos para saúde mental, especialmente para os pequenos: os mais pobres.
Para se ter ideia, em nosso país, a população mais pobre é composta por mais de 46,2 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, o que corresponde a mais de 22% da população brasileira. Parte desses indivíduos estão distribuídos nas mais de 11 mil favelas e periferias espalhadas por todo território nacional. Essa população enfrenta inúmeros desafios que compõe um verdadeiro “iceberg da desigualdade social” os afastando do atendimento e cuidado com a saúde mental, seja pela falta de acesso, escassez financeira ou preconceito.
Primeiro, é preciso abordar a realidade dessas famílias. Cerca de 63% dos lares periféricos e nas favelas são chefiados por mulheres pretas e pardas, que além de serem a maioria nesses territórios, enfrentam maior desvantagem no mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de mais de 13%. É esse contexto de desvantagens que as mães saem em busca de oportunidades, trabalhos pontuais e/ou sazonais para garantirem às suas famílias, ao menos o mínimo para sobreviverem.
Ainda que consigam subverter essa lógica, muitas delas devido à baixa escolaridade, assumem cargos operacionais, o que exige acionar as redes de apoio para cuidar da criança nos períodos em que estão trabalhando. Aí mora mais uma barreira. Segundo dados da FGV cerca de 72,4% das mães solo sequer possuem rede de apoio, quem dirá na realidade das mães periféricas.
Como consequência disso, é delegado ao filho mais velho – que geralmente possui poucos anos de diferença do irmão ou irmã mais novos – os cuidados com a casa e com a criança menor o que ceifa sua infância e atribui responsabilidades além da sua idade. A escassez de oportunidades de renda e autonomia faz com que essas famílias vivam em meio à precariedade e regidas pela incerteza, seja sobre próxima refeição ou se terá um teto digno para morar já que enfrentam condições de moradia inadequadas, com acesso restrito a saneamento básico e coleta de lixo.
Tudo isso, prejudica o desenvolvimento físico, intelectual e psicológico das crianças e adolescentes das periferias, que se veem sem perspectiva. Além disso, são constantemente expostos à violência racial, o que agrava ainda mais o sofrimento e contribui para o adoecimento das crianças negras.
Com uma bagagem de sentimentos e vivências, essa criança e adolescente acumulam traumas e sem qualquer perspectiva, espaços culturais, e de lazer seguros para o seu desenvolvimento acabam cada vez mais expostas a diversas vulnerabilidades como a violência. A pandemia intensificou ainda mais o problema. Segundo relatório da UNICEF 2022, mais de 70% das crianças de baixa renda no Brasil relataram aumento dos sentimentos de tristeza e ansiedade após a pandemia.
Mas, como diante dessa extensa lista de desigualdades podemos de alguma maneira promover um cenário diferente? Garantindo as crianças, mas também sua família autonomia e o acesso a tratamento e cuidados com a saúde mental? A resposta é complexa e depende de inúmeros fatores, mas o primeiro deles é o acesso à informação para contribuir com a redução do estigma sobre o tema.
De acordo com pesquisa do Instituto Ame Sua Mente, famílias com crianças ou adolescentes com problemas psiquiátricos não iniciam ou abandonam o tratamento de seus filhos por estigmas. Por esse motivo, o serviço público oferecido gratuitamente pelo SUS, a partir do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) tem um papel importante no apoio e redução do preconceito sobre o tema e que precisa ser ampliado.
Uma das modalidades de atendimento, o CAPS I, atende crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, e é indicado para municípios ou regiões com população acima de 70 mil habitantes. Contudo, mesmo com cerca de 33 unidades que oferecem atendimento ao público infantojuvenil na cidade de São Paulo, por exemplo ainda há muito a avançar, principalmente se considerarmos a extensão dos territórios periféricos.
Há regiões periféricas que se equiparam a municípios inteiros, um exemplo é o bairro de Pirituba, periferia da zona noroeste de São Paulo com mais de 167 mil habitantes e 17,1 km² que corresponde em tamanho e população ao município de Poá, na região metropolitana do estado. O fato é que são poucas as unidades de atendimento uma demanda cada vez mais crescente, o que não supre as necessidades e a dimensão da população das periferias.
Em razão disso, as longas filas no serviço público desestimulam iniciar um tratamento ou até mesmo continuá-lo. Além de tudo a escassez financeira não permite que essa família busque outras instituições para tratamento. Com isso, muitas crianças não obtêm diagnósticos, o que por vezes pode agravar transtornos, em que o tratamento na infância é imprescindível.
Na prática, isso significa que uma criança em sofrimento não tem a quem recorrer, ou o faz tardiamente, quando os sintomas já são mais graves. Além disso, muitas famílias sequer reconhecem a necessidade de apoio psicológico, já que precisam priorizar outras urgências.
O resultado do acúmulo de vulnerabilidades é infelizmente o afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar, a partir da atuação do Conselho Tutelar que passa a designar as SAICAS (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), popularmente conhecidos como abrigos, o cuidado com a criança e com a família, até que ela possa retornar de forma permanente para casa.
Uma cena triste que acompanho diariamente no atendimento a famílias e crianças no abrigo e clínica social, da ONG que gerencio. As inúmeras camadas submersas que compõe esse “iceberg das desigualdades” precisam de atenção e a valorização da saúde mental na infância, ser encarada como um investimento social.
Governos, empresas e as organizações do Terceiro Setor possam atuar em rede, para juntos promoverem mudanças reais nesse cenário com atenção especial para os desafios das famílias das periferias. Afinal as consequências do descaso social que começa na infância se estendem ao longo da vida. Crianças que não recebem apoio psicológico adequado têm maiores chances de abandonar a escola, se envolver em atividades de risco e enfrentar problemas de saúde mental na vida adulta.
Por isso, devemos pensar e trabalhar políticas públicas inclusivas que contemplem a saúde mental infantil, considerando a ampliação e inserção de centros de apoio psicológico nas comunidades, o fomento a iniciativas de organizações que contribuem com o cuidado e bem-estar emocional na infância, entre outras. A verdade é que não podemos mais ignorar as consequências da desigualdade social sobre a saúde mental das suas crianças.
O que que queremos construir para as crianças e jovens que crescem nas periferias do nosso país? Não há resposta simples para perguntas complexas, mas elas precisam ser feitas. O que não podemos continuar encarando apenas a ponta do iceberg até que o barco colida.
(*) – É CEO e co-fundadora da ONG PAC (https://www.projetopac.org.br/).