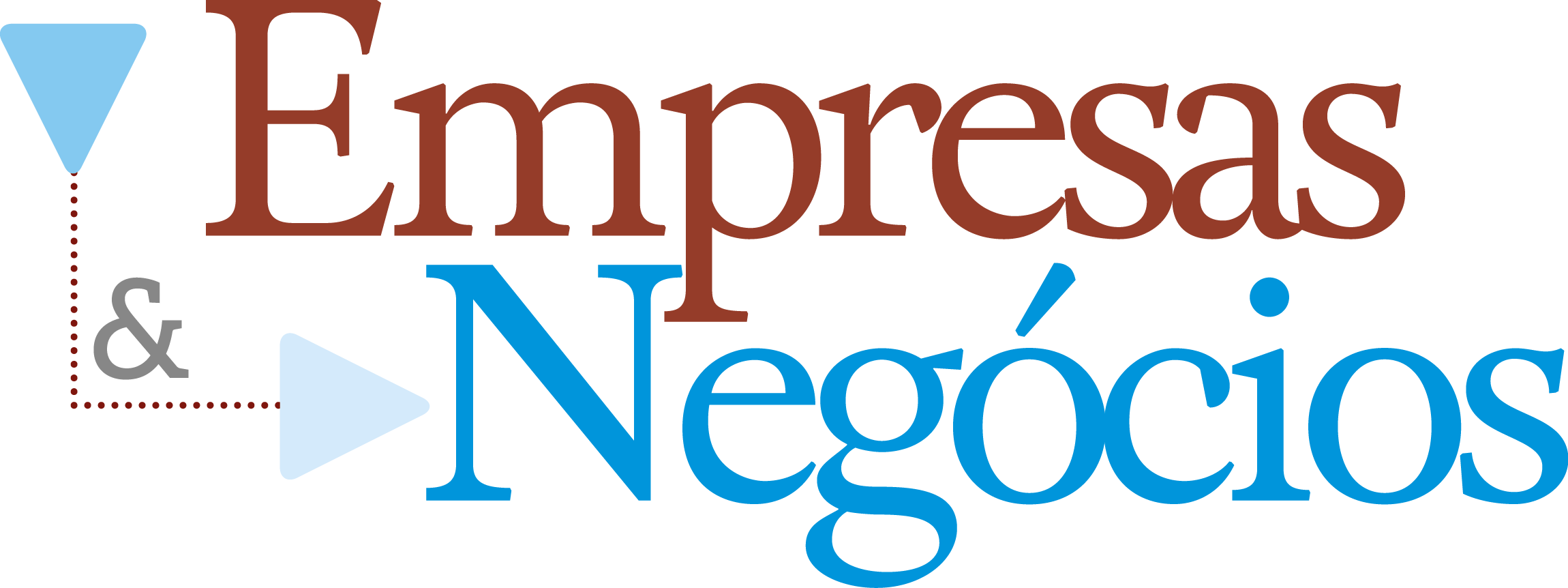Livro sobre intelectuais negros põe em xeque ideia de democracia racial no país
Pesquisa de historiadora da Universidade de Michigan revela amplo painel do pensamento antirracista entre 1900 e 1990
Jayme de Aguiar e José Corrêia Leite que entre 1924 e 1932 publicaram o jornal O Clarim d’Alvorada, em São Paulo. |
Marta Avancini/Jornal da Unicamp
Ao longo do século XX, predominou no Brasil a ideia de que havia democracia racial no país, com brancos e negros convivendo em harmonia. Essa visão foi colocada em xeque com a ascensão do movimento negro da década de 1970. Nesse contexto, a luta contra a discriminação foi progressivamente ganhando força, em detrimento da ideia de convivência pacífica entre as raças. No entanto, desde as primeiras décadas do século passado, intelectuais negros mobilizavam-se, por meio de jornais, clubes e organizações próprias, inserindo-se em debates e iniciativas com o objetivo de promover a plena inserção dos afrodescendentes na sociedade brasileira.
A atuação desses grupos é o tema do livro “Termos de inclusão: Intelectuais negros brasileiros no século XX”, da argentina Paulina Alberto, lançado pela Editora da Unicamp. Na obra, a historiadora da Universidade de Michigan apresenta um amplo painel do pensamento antirracista entre 1900 e 1990, com base na perspectiva de jornalistas e ativistas que atuaram em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador.
Para Alberto, a crítica dos militantes dos anos 1970 e 1980 à democracia racial justificava-se tanto pelo contexto nacional quanto pelo cenário internacional. Aqui, os governos ditatoriais usavam o aparato da repressão para defender a ideologia de um Brasil mestiço e harmonioso, caracterizando como “subversão esquerdista” os debates e as pesquisas acadêmicas sobre discriminação racial. “Os anos 1970 e 1980 são um momento muito dramático, uma fase em que houve uma mudança dramática das interpretações vigentes até aquele ponto no Brasil e no resto do mundo sobre a suposta convivência harmoniosa entre brancos e negros. Essa ideologia vinha sendo construída pelo menos desde o século XIX e houve uma inversão total do que era o senso comum”, afirma a historiadora.
 A crítica incisiva foi recebida com simpatia e contava com a adesão de muitos intelectuais brasileiros, como Florestan Fernandes. Entretanto, Alberto privilegia a perspectiva dos intelectuais negros para contar essa história, ao mesmo tempo em que amplia o olhar sobre os debates a respeito das questões raciais e as desigualdades, evitando polarizações e dualismos. São nomes como Jayme de Aguiar e José Corrêia Leite que entre 1924 e 1932 publicaram o jornal “O Clarim d’Alvorada”, em São Paulo, assim como Abdias Nascimento, uma das figuras centrais da luta antirracial no Brasil a partir da década de 1930.
A crítica incisiva foi recebida com simpatia e contava com a adesão de muitos intelectuais brasileiros, como Florestan Fernandes. Entretanto, Alberto privilegia a perspectiva dos intelectuais negros para contar essa história, ao mesmo tempo em que amplia o olhar sobre os debates a respeito das questões raciais e as desigualdades, evitando polarizações e dualismos. São nomes como Jayme de Aguiar e José Corrêia Leite que entre 1924 e 1932 publicaram o jornal “O Clarim d’Alvorada”, em São Paulo, assim como Abdias Nascimento, uma das figuras centrais da luta antirracial no Brasil a partir da década de 1930.
 “Queria mostrar que não existem apenas alguns momentos-chave, mas que há uma luta constante e muito variável”, diz. “E também queria ressaltar a enorme força, a criatividade e a adaptabilidade da luta antirracista, como ela toma formas muito surpreendentes”, complementa a pesquisadora. Ela cita como exemplo a Frente Negra, conhecida organização, que se transformou em partido político em 1936. Embora tenha sido fundamental para a luta antidiscriminação, a Frente Negra possuía dimensões fascistas, o que, segundo a autora, é compreensível dentro das circunstâncias e do que era possível então.
“Queria mostrar que não existem apenas alguns momentos-chave, mas que há uma luta constante e muito variável”, diz. “E também queria ressaltar a enorme força, a criatividade e a adaptabilidade da luta antirracista, como ela toma formas muito surpreendentes”, complementa a pesquisadora. Ela cita como exemplo a Frente Negra, conhecida organização, que se transformou em partido político em 1936. Embora tenha sido fundamental para a luta antidiscriminação, a Frente Negra possuía dimensões fascistas, o que, segundo a autora, é compreensível dentro das circunstâncias e do que era possível então.
Ela faz um contraponto com a Argentina, seu país de origem e objeto de suas mais recentes pesquisas: enquanto no Brasil a luta era pela inclusão, no país vizinho, o discurso do racismo científico tornou-se dominante, fazendo com que os negros aprendessem rapidamente a se desmarcar como negros. “No Brasil, não. Os intelectuais negros acharam espaços, espaços muito fechados, mas eles acharam,” para se firmar como negros ou descendentes de africanos.
Desse modo, o movimento negro da década de 1970 é um momento marcante da luta antirracismo no Brasil. Nessa perspectiva, o movimento dos intelectuais negros do começo do século XX passa a ser compreendido “em seus próprios termos”, ou seja, considerando as circunstâncias e os limites enfrentados, bem como as estratégias possíveis e as linguagens políticas de então. Ou, como evidencia a autora, “não faz sentido esperar que eles tivessem uma mesma visão ou opção política que seus pares de 30 anos depois”.
Desse modo, na obra encontra-se uma análise dos conceitos, das ideias e das propostas por meio das quais a sociedade brasileira concebeu a inclusão dos negros ao longo do tempo. Como pontua Paulina Alberto, “o conceito de democracia racial é frequentemente usado como um termo a-histórico, como se sempre tivesse existido. Na verdade, ele surge durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940”. Em suas pesquisas, “fraternidade racial” foi a primeira expressão que ela identificou para traduzir o ideal de harmonia entre as raças.
“A fraternidade racial foi a primeira ideia. Ela aparece muito nos anos 1910 e 1920 e está ligada à tradição republicana e ao positivismo. No entanto, possui uma dimensão totalmente brasileira, relacionada à percepção de que existe uma organicidade, uma intimidade nas relações entre negros e brancos no Brasil”, explica.
Fraternidade era um termo fortemente polissêmico, assinala a historiadora. Por exemplo, era tanto usado como referência à intimidade existente entre as escravas que permaneciam na senzala à disposição do senhor branco (numa visão hierárquica da sociedade) quanto relacionado à visão da mãe preta que criou e irmanou essas raças – deixando implícito, portanto, que os brancos têm uma dívida com os negros. Além da polissemia, o caráter sentimental associado à palavra fraternidade colaborou para que ela persistisse e fosse amplamente adotada.
“É estranho para a nossa sensibilidade imaginar como intelectuais combativos como aqueles do começo do século prenderam-se a um símbolo tão sentimental. Mas sua força vem, justamente, do fato de que, naquela época, o Brasil estava tentando se posicionar como um lugar de inclusão e harmonia racial. A arma que os intelectuais negros tinham era essa sentimentalidade, num cenário dominado pelo racismo científico”.

Na Era Vargas (1930 a 1945), emerge o termo “nacional” para designar os negros. Na época, a palavra ganhou uma conotação diferente da que recebia na República Velha, quando era pejorativa, quase que um insulto, descreve a autora. “Havia a ideia de que não era recomendável contratar um nacional, porque eles não tinham comprometimento com o trabalho. Nacional queria dizer negro, ex-escravo, com toda a ideologia da vadiagem. Então, quem buscava um empregado (especialmente nos estados do Sul) não queria os nacionais, e sim os imigrantes”.
Com Getúlio Vargas, isso muda, especialmente por causa da chamada “Lei dos 2/3”, aprovada em 1930, que determinava que dois terços dos empregados de um estabelecimento deveriam ser brasileiros. “O nacional passa a ser valorizado. Além disso, passa a existir uma identificação tácita do negro e da cultura africana com a ideia de Brasil”, analisa a historiadora. Na segunda metade da década de 1940 há outra mudança, com a ascensão da ideia de “democracia racial”, pautada por direitos e reivindicações.
Esse otimismo reflui durante a ditadura militar, como lembra a historiadora: “Como eles oficializaram a democracia racial, então não se podia falar a respeito do assunto e começaram a reprimir organizações negras e acadêmicos que tematizavam a questão”. Esse é o pano de fundo, argumenta Alberto, para o surgimento dos movimentos de resistência. Mas, ainda assim, o compromisso com o ideal da inclusão racial plena – se não da “harmonia” – continuou norteando as lutas dos ativistas.
.